A.G. Lourenço Martins
Procurador-Geral Adjunto; eleito, em 1995, pelo Conselho Económico e Social das Nações Unidas, membro do órgão internacional de controlo de estupefacientes

1. História do consumo de drogas
Perde-se nos tempos a tradição do consumo de drogas — cada povo e cada cultura vai tendo as suas. Umas vezes, o homem procurou nelas a nutrição física, outras, andou à cata de remédio para as suas doenças, outras ainda, para alimentar sonhos ou alcançar o transcendente, influenciar o humor, buscar a paz ou a excitação, enfim, simplesmente para abstrair do mundo que o cerca e o perturba em dado momento da sua existência (1). E um certo mistério que rodeava o templo de Eleusis, desde o século iv a. C. até à idade helénica, onde dominava o culto dos deuses Demétrio (com uma papoila a ornar as suas estátuas), Dionísio e Orfeu, foi perdurando numa aura mítica que agora a pouco e pouco se desfaz numa boa parte dos países…
No período dos impérios coloniais, as drogas foram usadas predominantemente como moeda de troca, numa indiferença completa pelas consequências do seu uso para fins diferentes dos medicinais ou de medianeiras nos contactos com o transcendente.
Detenhamo-nos um pouco nas três principais drogas de origem natural: a planta da cannabis, o arbusto da coca e a papoila do ópio.
1.1. Ao olharmos para a planta da cannabis, cujo berço terá sido nas estepes da Ásia central, onde continua a crescer de modo selvagem, por exemplo no Kasaquistão e no Kirguistão — observa-se hoje que a suadestruição maciça pode brigar com aspectos ecológicos de recuperação de áreas desérticas —, constata-se que a história da sua difusão universal se confunde com a das migrações.
Cultivada por causa das fibras, do óleo extraído dos seus grãos e como forragem para animais, cedo (2700 anos a. C.) se lhe reconheceram propriedades psicoactivas, nomeadamente como sedativo para tratamento da alienação mental na farmacopeia do imperador Chen-
nong. Os poderes estimulantes e euforisantes do cânhamo são elogiados num dos quatro livros santos dos indo-arianos (1300 a. C.). Após secagem e redução a pó, as sumidades floridas são misturadas nos alimentos ou bebidas. Um papiro egípcio do século xvi a. C. cita a planta entre as drogas sagradas dos faraós. No século ix a. C. é usada na Assíria como incenso.
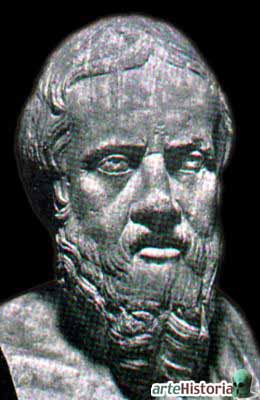
O célebre historiador grego Heródoto dá conta da presença da planta ao norte do mar Negro, entre os rios Don e Danúbio, chamando a atenção para as semelhanças deste cânhamo com o linho, e do seu uso para vestuário. Conta mesmo como os povos nómadas que habitavam a região tomavam banhos de vapor provocado pelo lançamento das suas sementes sobre pedras incandescentes. E, curiosamente, acrescenta: «É o único banho que conhecem pois jamais lavam o corpo inteiro com água.»
A sua cultura na Europa ocidental é conhecida nos séculos i e ii, pois os romanos utilizam-na para os cordames dos seus navios, importando-a da Gália onde crescia em abundância.
Usada como euforisante nos banquetes, alertava, porém, o médico Galien contra o abuso da erva (na pastelaria) pois prejudicaria o cérebro quando tomada em excesso.
Considerada como a erva da mediação com os deuses — o bhang —torna-se indissociável da meditação da casta sacerdotal dos brâmanes (religião hindu). Ainda no seio das religiões, uma lenda diz que o próprio Buda, durante as sete etapas do percurso que o conduziu à iluminação, viveu de um grão de cânhamo por dia.
Para não fugir a esta atracção, a partir do século vii também o islamismo contribui para a propagação da cannabis, conhecida a partir do século xiv sob o nome de haxixe, isto é, erva em árabe.
Tristemente afamada, a crer no testemunho de Marco Polo, nos séculos xi a xiii, na Pérsia setentrional, Iraque e Síria, foi a seita dos «haschischans», a qual praticava o assassinato político contra o poder sunita de Bagdad, após a ingestão de uma bebida que proviria da cannabis.
A viagem da planta para a África começa pelo Egipto, no fim do século xii, onde o seu uso recreativo atinge todas as classes sociais, e depois de ser levada a todo o mundo muçulmano, estende-se pela África negra através dos comerciantes que vão implantando entrepostos pela costa Este, aparecendo na África do Sul em meados do século xv, agora sob o nome de dagga.
Provavelmente terão sido os portugueses, através dos escravos africanos idos de Angola para o Brasil, que introduziram a cannabis na América (liamba em Angola, riamba ou marimba no Brasil). Todavia, foi na Jamaica, pela mão dos ingleses, que a sua cultura (com a designação de ganja) se intensificou para a obtenção de fibras. Das Caraíbas para o México foi um salto, onde é rebaptizada sob o nome mais vulgarizado — a marijuana.

Deste «passeio» da cannabis pelo mundo haverá que acentuar o que se designa pelos dois rostos da planta, e que levou os botânicos a suporem durante muito tempo que se tratava de duas espécies — a cannabis e o cânhamo. Nas zonas temperadas, sobressai a planta das fibras, usada estrategicamente nas cordas, velas, bem como na pintura e vernizes dos navios que partem à descoberta do mundo. Em outras partes, perfila-se o rosto da planta droga. E aqui de novo numa dupla face: a das propriedades terapêuticas, como analgésico, somnífero, anti-tússico, antineurasténico; a outra, a das suas propriedades recreativas, hedonísticas e místicas.
Basta atentar, a título de exemplo, no que hoje se passa na Europa e na América do Norte, para concluir como a situação mantém semelhanças, nos seus vários aspectos.
Com efeito, a União Europeia subsidia a cultura da cannabis para a obtenção de fibras e grãos (2); nos EUA prolifera a cultura doméstica da sinsemilla, variedade da planta rica em resina e com elevado teor de THC (tetrahidrocanabinol), destinada a consumo recreativo.
Por outro lado, enquanto na Europa vingará hoje a opinião de que à cannabis não são reconhecidas indicações terapêuticas (3), nos EUA, dois dos seus Estados — Califórnia e Arizona — acabam de referendar o uso da cannabis mediante prescrição médica, atribuindo-se-lhe virtudes, tais como, a de combater a náusea induzida pela quimioterapia, a de atenuar a pressão dos olhos nos doentes de glaucoma, enfim, a de ajudar os doentes de SIDA a recuperar o apetite (4).
E conforme se destaca uma ou outra assim se canoniza ou endemoninha a planta e o seu cultivo.
Não será por isso prematuro afirmar, desde já, que nos EUA como em outros países economicamente desenvolvidos, não existe investigação substancial sobre a cannabis, pelo que se revelaria pertinente o comentário de The Economist (5), verberando a reacção da Administração americana aos referendos sobre a marijuana, pois que em vez de perder tempo a insurgir-se deveria aproveitar a oportunidade para investigar se aquela tem ou não algum valor médico.

1.2. Na história do arbusto da coca e da folha da coca, cuja produção tem sido um quase monopólio dos países andinos, especialmente da Bolívia e do Peru, os gérmens conhecidos do seu consumo tradicional remontam a cerca de 5000 mil anos atrás. O hábito da mastigação da folha de coca (6) tem acompanhado a vida das populações daquela região nas suas funções laborais, sociais e de manifestação ritual. Mas aparece ligado particularmente ao alívio do esforço físico e mental provocado pelo trabalho em altitude (no planalto).
Com a colonização espanhola e a exploração das minas, a mastigação da folha de coca continua a desempenhar o seu papel de refrigério do cansaço e de lenitivo para a submissão às duras imposições desse trabalho.
Em tempo de guerra, nomeadamente com o irromper das independências, a partir do início do século xix, a folha de coca permite aos combatentes de ambos os lados suportar a fadiga e os rigores do clima. E o domínio sobre o cultivo e o mercado da folha de coca andou muitas vezes paredes meias com as conquistas realizadas.
Apesar do fervor religioso do clero, que no início da colonização (século xvi) advogava a sua erradicação, por ver na folha de coca osímbolo das crenças autóctones, o «talismã do diabo», o seu cultivo persistiu dado o valor económico que representava, a ponto de não apenas a Coroa espanhola cobrar tributo sobre a mesma, como a própria Igreja dela arrecadar o dízimo.
Na verdade, os depósitos de folha de coca e de produtos alimentares permitem socorrer os indigentes, aprovisionar o exército, a população em períodos de fome e a mão-de-obra para os grandes trabalhos.
Como é sabido, a cocaína é um alcalóide (isolado por Niemen por volta de 1860) extraído das folhas da coca (Erythroxilon coca), à qual o próprio Freud dedicou grande atenção pelas suas propriedades anestésicas e de acção psíquica.
Mas muito para lá do seu uso clínico, ao que parece hoje reduzidíssimo (7), o emprego da cocaína como substância recreativa renasce ciclicamente e não apenas entre os aristocratas ou os executivos mas em outros estratos sociais (8).

Hoje em dia, a massificação do seu uso, através da inalação, tornou–se possível mediante dois derivados: a pasta base de coca («free-basing») (9) ou, numa outra forma, igualmente de fabrico simples, mas menos odorosa, o «crack». Características comuns, propícias à sua difusão: mais baratas e de efeitos mais fortes (também mais perigosos para a saúde, nomeadamente pela sua absorção rápida através dos pulmões, atingindo o cérebro de modo fulminante).
E eis como uma planta com vários préstimos, localizada numa determinada região do mundo pelo cultivo e pela tradição cultural, se difunde num uso afastado dos hábitos iniciais.
Atentemos com algum pormenor no hábito de consumo que é o da mastigação tradicional, e sobre cujos efeitos sanitários se suscitam dúvidas.
Como se vê da Convenção Única sobre os Estupefacientes de 1961, a mastigação da folha de coca podia ser autorizada por um período máximo de 25 anos (10), o qual já se escoou. Entretanto, alguns países da América Latina pediram à Organização Mundial de Saúde (OMS) que se pronunciasse sobre a nocividade ou não de tal hábito. Vão decorridos cerca de dois anos que um grupo composto por 40 cientistas de todo o mundo, recrutados no âmbito da OMS, emitiu opinião no sentido de que o uso da folha de coca não provocava na saúde física ou mental um dano digno de nota. No entanto, a OMS veio esclarecer publicamente que o estudo apenas representava os pontos de vista dos peritos que o subscreveram, reservando-se uma revisão das suas conclusões e uma posterior tomada de posição formal.
Aqui está um exemplo de como a responsabilidade que a OMS detém nesta matéria não foi ainda exercida em termos de contribuir para dar fundamentos científicos válidos às posições a adoptar pela comunidade mundial ou de certa região.
Não está em causa, como decorre do exposto, o abuso de cocaína e seus derivados, que também hoje corre mundo, e de cujos efeitos prejudiciais para a saúde não restam dúvidas.

1.3. Contrariamente à ideia mais difundida sobre a proveniência oriental do ópio (11), os vestígios mais antigos conhecidos (4200 a. C.) — objectos que terão servido para queimar ópio e sacos de cápsulas —, foram encontrados na gruta funerária de Albuñol, perto de Granada, em Espanha.
No Médio-Oriente, a papoila do ópio era conhecida pela «planta da alegria». E as suas grinaldas perpassam pelas coroas dos deuses da mitologia grega (Morfeu sacode as papoilas todas as noites sobre os mortais a fim de lhes proporcionar repouso e esquecimento).
Propriedades medicinais são-lhe atribuídas por Hipócrates (século v a. C.), e Aristóteles, preceptor de Alexandre o Grande, indica-a como calmante e somnífero, a par das virtudes mágicas e religiosas.
Terão sido os gregos que levaram a papoila para a Ásia central e Índia.
Até ao século xvi, na Europa o ópio caminha na fronteira entre a fitoterapia e o elixir de feitiçaria; mas com o Renascimento é integrado na farmacopeia (Paracelso usa-o em numerosas preparações).
A história mais recente do ópio liga-se com a saga quinhentista dos descobrimentos portugueses e as novas rotas comerciais que são abertas a partir da Índia, reestruturando um espaço comercial outrora ocupado pelos árabes e chineses, no qual as especiarias predominam (12). Massão os holandeses — numa colonização dominada por razões estritas de proveito económico — e depois especialmente os ingleses, que vão apropriar-se do comércio do ópio a nível mundial.
Depois de se assenhorearem de uma das principais regiões produtoras de ópio na Índia (Patna), e perante o forte défice comercial da «East India Company», que tinha de comprar o chá e a seda à China por troca com os tecidos de algodão indiano ou então em dinheiro — a China acabava por vender mais do que comprava —, os ingleses encontraram na venda de ópio as divisas chinesas que lhes faltavam. O monopólio anglo-indiano do ópio, a partir de 1775, inunda a China e não cessa de progredir apesar da interdição do seu consumo (em 1800) neste último país.
Nem o apelo directo do Imperador Lin-Tso-siu à Rainha Victória para que a Inglaterra terminasse com o contrabando evitou as denominadas «guerras do ópio» (13).

Em 1839, a China, depois de uma discussão interna sobre se devia continuar a proibição da droga — com os efeitos conhecidos do contrabando que os ingleses fomentavam desabridamente e a corrupção — ou legalizar o seu comércio, ainda que controlado estadualmente
— com o risco de um desenvolvimento maciço do consumo —, optou pela primeira alternativa e reagiu pela apreensão em Cantão de cerca de vinte mil caixas de ópio, isto é, 1400 toneladas, lançando simbolicamente o produto ao mar.
Não se fez esperar o contra-ataque (castigo) da frota inglesa e a imposição de duras condições, através do Tratado de Nanquim: uma indemnização aos armadores-contrabandistas e a permissão de abertura de cinco portos ao comércio internacional, para além da concessão de Hong-Kong.
Dose repetida e aumentada vem a ser aplicada perante a apreensão da fragata Arrow (1859), em que os vencedores são agora não apenas os ingleses mas também os franceses. Impõem, pelo Tratado de Tien-Tsin, a legalização do comércio do ópio, eufemisticamente para fins medicinais.
É o descalabro para a China, que acaba por taxar o comércio do ópio apesar de oficialmente proibido a nível do Governo central e também por produzi-lo para as suas crescentes necessidades internas.
E quando finalmente na Inglaterra se erguem vozes considerando tal comércio «imoral», a China debatia-se com um «exército» de opiómanos, de difícil cálculo, mas que se situaria entre 15 a 40 milhões para uma população de cerca de 430 milhões (14). Inevitavelmente a China decreta (1906) a proibição da cultura da papoila e do consumo do ópio, por um período de 10 anos.
1.4. Aqui se inicia o movimento que leva ao actual direito internacional (e nacional) da droga, período em que se confrontam dois blocos heteróclitos.
Se a China tinha razões de sobra para proibir a produção, o comércio e o consumo de ópio, recebe no início do século o apoio de um aliado de peso, os Estados Unidos da América, ainda que movido por outros interesses. Com efeito, logo a seguir à deslocação de mão-de-obra amarela para a construção dos caminhos de ferro
do Oeste e à conquista das Filipinas pelos Estados Unidos, instala–se no seu território uma importante colónia chinesa, a qual leva consigo os hábitos do fumo do ópio. Para além da natural concorrência com a mão-de-obra local, desperta o puritanismo religioso, que pretende defender as «tribos aborígenes e as raças não civilizadas» (15).
No outro bloco encontravam-se os países colonizadores, entre os quais Portugal, agarrados aos seus interesses comerciais.
Entrementes, em Inglaterra comparavam-se redutoramente os efeitos do ópio na China aos das bebidas espirituosas.
Dos trabalhos da Conferência de Xangai (16) (1909), onde se enfrentam aqueles dois blocos, embora reduzidos à formulação de simples recomendações emana, no entanto, um princípio (um ideal) que viria a perdurar durante todo o século xx: a limitação do comércio das drogas prejudiciais somente a fins médicos.
Estava preparado o terreno para se passar à elaboração de instrumentos vinculativos, dos quais apenas destacaremos alguns tópicos mais importantes.

Na Convenção de Haia (1912) revela-se já uma tendência para abarcar todas as drogas, embora se dedique especial atenção ao ópio nastrês variantes: em bruto, preparado (para fumar), e medicinal. Poderia dizer-se que, a nível internacional, sobrelevam ainda as intenções pias sobre as medidas concretas.
Com o fim da Primeira Grande Guerra e o surgimento da Sociedade das Nações é cometida a esta a execução das medidas tomadas contra o tráfico do ópio e de outras drogas.
Já sob a sua égide, as conferências de Genève (1925), da quais emanam duas convenções, espelham sintomaticamente os conflitos das teses que, pode dizer-se, vão rolando até aos nossos dias. De um lado, os «realistas», partidários da regulamentação da distribuição do ópio — que adoptam um sistema de produção e distribuição controlada por um monopólio do Estado (17); do outro, os «idealistas», partidários da proibição total e do princípio de que as drogas só devem ser usadas para fins medicinais. As duas convenções reflectem a adopção de políticas ainda de algum modo à medida e ao desejo de cada país.
Como novidade, porém, instituiu-se a fiscalização da execução das convenções, a qual foi posta a cargo de um organismo das Nações Unidas, antecessor do actual Órgão Internacional de Controlo de Estupefacientes.
No período que se segue — durante o qual se dá a transferência da Sociedade das Nações para a Organização das Nações Unidas —, até às convenções hoje vigentes, acentua-se o controlo e as sanções, na esteira, aliás, das teses americanas (proibicionismo).
Entretanto, dava-se a descolonização, acontecimento que fez mudar radicalmente a estratégia: não há mais oposição entre os EUA e as potências coloniais da Europa mas sim entre países consumidores do Norte e produtores do Sul.
2. O moderno direito internacional da droga
2.1. A Convenção Única sobre os Estupefacientes de 1961 — doravante designada por CUE61 — destinou-se explicitamente (v. o seu artigo 44.º) a substituir os anteriores instrumentos multilateraispor um único, a reduzir o número de órgãos internacionais entretanto criados, a assegurar o controlo das matérias-primas dos estupefacientes.
Em termos sintéticos, o sistema descreve-se assim: as Partes obrigam-se a limitar, exclusivamente a fins médicos e científicos, a produção, fabrico, exportação, importação, distribuição, comércio e uso dos estupefacientes constantes da lista anexa à Convenção — lista que deve ser actualizada conforme as informações disponíveis sobre a perigosidade das substâncias; as Partes declaram ao organismo de supervisão das Nações Unidas (o OICE) as suas necessidades anuais que, uma vez aprovadas, devem ser tidas em conta pelos países fornecedores, inclusive quanto à necessidade da sua satisfação (18); nas relações de comércio, especialmente internacional, adoptam um conjunto de medidas que impeçam o desvio das substâncias para o mercado ilícito; aplicarão disposições de carácter penal aos comportamentos violadores dos preceitos convencionais.

A universalidade da sua aplicação — inclusive pela cooperação dos países não Partes — e o rigor no controlo das drogas mais usadas (ópio, coca e cannabis), sob a supervisão do OICE, são os esteios do sistema.
Tal estatuto já foi classificado de «regime de economia dirigida». Talvez com mais rigor se pudesse qualificar de «regime de mercado mundial controlado». Se funciona ou não, é coisa que afloraremos mais adiante.
A crítica mais aguda feita à CUE61 recaiu na debilidade dos mecanismos de controlo, nomeadamente na ausência de poder coercitivo do OICE.
O Protocolo de 1972 visava colmatar essa brecha, mas não o terá conseguido satisfatoriamente. Na verdade, o OICE continua a não deter verdadeiros poderes de inspecção, por exemplo, sobre as culturas ilícitas, e as sua fontes de informação tendem a ser apenas as oficiais.
O seu modo de actuação principal continua guiado pela «política de persuasão», conjugada com a realização de missões oficiais aos países com maior deficit no cumprimento das obrigações internacionais. Mais do que o procedimento minucioso a que refere o artigo 14.º — consultas, estudos, medidas correctivas, comunicação ao Conselho Económico e Social e à Comissão de Estupefacientes, na falta de resultados — o OICE tem procurado influenciar diplomática mas incisivamente no sentido do cumprimento, promovendo o apoio técnico e financeiro das Nações Unidas, usando o seu Relatório anual, publicitado mundialmente, para dar a conhecer as questões não resolvidas.
É certo que esta via de actuação era susceptível de melhores efeitos. Mas para isso continua a ser indispensável a vontade das Partes em permitirem indagações in loco sobre o cumprimento ou não das suas responsabilidades, seguidas de medidas com algum grau de coerção e eficácia. Sendo certo, porém, que a generalidade dos países que menos colaboram com a comunidade internacional no combate à droga — ou nem sequer aderiram às convenções — se situa em zonas atingidas por catástrofes naturais ou se encontra a braços com lutas intestinas prolongadas, muitas vezes em autêntica guerra civil.
Um sinal de como um falso conceito de soberania é ainda um dos obstáculos à cooperação pode ver-se nas reservas feitas por várias Partes à possibilidade de intervenção do Tribunal Internacional de Justiça (artigos 48.º, n.º 2 e 50.º, n.º 3, da CUE61), na resolução de diferendos, lugar paralelo da atitude não colaborante ostentada pelas Partes em outras situações.
Pontos que adiante retomaremos.
Através da CUE61 visa-se o controlo de 120 substâncias.
Neste momento 161 Partes ratificaram ou aderiram à Convenção (em cerca de 190 que pertencem às Nações Unidas).

2.2. Pela Convenção de 1971 sobre as Substâncias Psicotrópicas — doravante designada por CSP71 — inverte-se de certo modo a posição dos países produtores e consumidores, aqueles agora situados no Norte, dado que as substâncias aí incluídas são de origem industrial (sintética).
Visíveis se mostram as mesmas preocupações que na CUE61: protecção da saúde física e moral da humanidade, limitação do uso destas substâncias para fins médicos e científicos, a necessidade de medidas coordenadas e de tipo universal, enfim, o mesmo modelo de controlo e através dos mesmos organismos. Simplesmente, a pretexto da burocracia que viria a incidir na venda a retalho dos medicamentos, os mecanismos aplicáveis são menos severos, o que levou à crítica de que estando agora em causa outros países produtores já não se observavam critérios tão apertados.
O que pode dizer-se é que a CSP71 se destina a completar as medidas constantes da CUE61, autonomizando uma lista de substâncias de uso mais frequente que as desta, e de forma geral menos perigosas. Como, por outro lado, muitas dessas substâncias são de uso clínico, assume particular relevo a exigência da prescrição médica respectiva, para além das cautelas de licenciamento, registo de operações, não publicidade, etc.
Todavia, se o controlo a nível das Nações Unidas, nomeadamente em termos de estimativa prévia de necessidades e informação estatística sobre consumos, apreensões e sua afectação, não é exigido pela CSP71, já as medidas adoptadas no comércio internacional, designadamente o sistema de autorização de exportação dependente de um certificado de importação, podem estender-se, se as partes o desejarem, a todas as substâncias.
Subsiste sempre a mesma questão: a circulação destas substâncias no interior de um país ou união económica exige um controlo administrativo que tem um custo económico; nos países menos desenvolvidos nem sempre existem os recursos humanos e técnicos que permitem pô-lo de pé e mantê-lo, enquanto que nos mais desenvolvidos os esforços vão muitas vezes no sentido de tentar aligeirá-lo porque limita a expansão do mercado.
Ora, é bem sabido que os interesses comerciais raramente coincidem com os da saúde da população.
Através da CSP71 visa-se hoje o controlo de 111 substâncias.
Neste momento, 149 Estados ratificaram ou aderiram à Convenção.
2.3. Passemos à Convenção das Nações Unidas contra o tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas de 1988.

É certo que as convenções de 1961 e de 1971, bem como as anteriores (com excepção da de 1936), se interessaram especialmente pelo controlo do mercado lícito de drogas e o seu reflexo na saúde e bem-estar dos indivíduos.
Com a Convenção de 1988, o acento tónico é colocado nos efeitos devastadores e crescentes do tráfico de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas e o seu reflexo outrossim nos fundamentos económicos, culturais e políticos da sociedade.
Ao minar a economia legítima, são também ameaçadas a estabilidade, a segurança e até mesmo a soberania dos Estados. Por isso, a atenção posta no tráfico, como fonte ilícita de ganhos financeiros e de fortunas, bem como nos efeitos de contaminação provocada nas actividades comerciais e económico-financeiras normais.
Por outro lado, dá-se mais um passo no controlo de outras substâncias — precursores, produtos químicos essenciais e solventes — que a experiência revelou serem susceptíveis de desvio para o fabrico ilícito de drogas. Substâncias de uso industrial e comercial corrente — v. g. a efedrina, a acetona, o anidrido acético, o éter etílico, a que se juntaram logo o ácido sulfúrico, o permanganato de potássio, num total de 22 substâncias — cujo circuito interno de produção e distribuição, bem como o seu comércio internacional, vão ficar sujeitos a um certo controlo, de menor peso evidentemente que o das substâncias incluídas nas convenções de 61 e 71, na medida em que o seu uso é ainda mais vulgar.
Ambiciona-se especialmente um reforço da cooperação internacional, ao mesmo tempo que se visa colmatar lacunas das outras duas convenções.
Nesta conformidade, atribui-se especial relevo a aspectos de incriminação de condutas ligadas ao tráfico de estupefacientes, psicotrópicos e precursores, e às actividades de aproveitamento dos ganhos dele derivados, o designado branqueamento de capitais e outros valores obtidos (19), e a sua consequente apreensão e perda para o Estado (20).
O aludido reforço da cooperação internacional repercute-se em medidas, tais como, a extradição de criminosos, a entreajuda judiciária destinada à preparação das provas e ao julgamento dos arguidos, a transferência dos próprios processos por este tipo de infracções quando necessária ao interesse numa boa administração da justiça (21), a troca se-gura e rápida de informação, o emprego de equipas mistas de investigação, o apoio na formação, enfim, o uso da técnica das entregas controladas (22).
Sob um ângulo inovatório, pelo menos para alguns países, cuida-se de obter a colaboração das transportadoras comerciais, de modo a prevenir a prática das infracções nos meios de transporte e mesmo a informar as autoridades sobre as circunstâncias suspeitas de actuação. De modo semelhante, procura-se evitar que os serviços postais sejam utilizados como veículo do tráfico ilícito.
Permita-se-me um breve parêntesis, relacionado com uma observação já feita sobre o consumo tradicional de certas drogas.
No artigo 14.º desta Convenção, aliás escassamente referido, diga–se de passagem, preconiza-se um conjunto de medidas não apenas para erradicar a cultura ilícita de plantas de onde se extraem estupefacientes, como também para eliminar ou reduzir a procura ilícita de drogas. Ainda no paradigma antigo de países produtores versus países consumidores de drogas de origem vegetal, o preceito constitui um compromisso evidente.
O seu entendimento deixa margem para dúvidas, não somente nas intenções, mas sobretudo quando se impõe a cada Parte que tome as medidas apropriadas para impedir a cultura ilícita de plantas como a papoila do ópio, o arbusto da coca e a cannabis e para levar a efeito a sua destruição em caso de cultivo ilícito (23). Acrescenta-se então (n.º 2):
«As medidas adoptadas devem respeitar os direitos humanos fundamentais e ter devidamente em conta as utilizações lícitas tradicionais, quando existam provas históricas dessa utilização, assim como a protecção do meio ambiente».
Se bem que pela regra do n.º 1 se pretendam ressalvar as disposições de erradicação de culturas ilícitas das convenções de 1961 e 1971 (24), ficam dúvidas quanto a saber se por esta forma não se recuperou o conteúdo das reservas transitórias referidas no artigo 49.º da CUE61, onde se autorizava o uso temporário do ópio, da folha da coca e da cannabis para fins não médicos.
São Partes nesta Convenção 138 Estados.
2.4. Detenhamo-nos numa ainda que breve apreciação do sistema de controlo do mercado lícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas e precursores.
Tem-se repetido com alguma frequência, especialmente nos relatórios anuais do OICE, o que não tem sido desmentido pela Comissão de Estupefacientes, que este sistema administrativo mundial, de tipo centralizado, estabelecido pelas convenções de 61 e 71, tem produzido bons frutos.
Quer isto dizer que os desvios para o mercado ilícito têm sido mínimos — talvez com alguma ressalva quanto às substâncias constantes das tabelas iii e iv da CSP71, com lacunas de controlo em vias de superação —, e que as Partes nestes Tratados têm cumprido de modo regular e satisfatório as suas obrigações internacionais, o que não pode deixar de ser assinalado como um êxito.

Dada a perigosidade de certas substâncias, o seu potencial abuso fora de uma prática médica sadia, a possibilidade de desvio, tudo continuará a justificar o seu controlo, por maioria de razão relativamente ao dos vulgares medicamentos.
Dir-se-á, no entanto, que o bom funcionamento do mercado lícito não tem evitado o florescimento de um mercado paralelo, um real mercado negro de abastecimento de substâncias destinadas a fins não medicinais.
Com efeito, ao lado dessas necessidades médicas existe uma apetência para o uso de certas drogas, coincidentes ou não com os medicamentos mas baseadas nas mesmas matérias-primas, para fins ditos recreativos, fins diferentes dos desejados por aquele controlo. E para satisfazer essa «necessidade» aparece uma oferta própria.
Aquele mercado (lícito) pode continuar a estar controlado, isso é um bem, todavia, daí não advirá a solução para uma «necessidade» que não carece de uma resposta terapêutica.
Por isso que as tentativas de introduzir a distribuição de drogas através do circuito, digamos oficial — normalmente as farmácias —, passem pela catalogação da droga como de finalidade terapêutica, o que em princípio supõe a intervenção de um médico que a prescreva.
É perante esta indesmentível realidade de um mercado paralelo, ilícito, que se tenta erguer a Convenção de 1988, destinada a combater a produção e tráfico ilícitos.
Repare-se que se a incriminação de comportamentos de tráfico de drogas era algo já existente na generalidade dos Estados, o mesmo não sucedia com a punição das acções de branqueamento de capitais ou valores provenientes do tráfico.
O que agora quereria salientar tem a ver com os ditos precursores e substâncias químicas essenciais ao fabrico de certas drogas ilícitas.
Instituiu-se, neste campo, um sistema de controlo de mercado lícito, que no fundo é semelhante ao já existente para os estupefacientes e psicotrópicos. Na verdade, as Partes devem tomar as medidas que considerem adequadas para controlar, no seu território, o fabrico e a distribuição de certas substâncias que podem ser usadas no fabrico ilícito de drogas. Assim, hão-de submeter a licenciamento os estabelecimentos e locais de fabrico e distribuição, exigir licenças para essas actividades, impedir a acumulação de excedentes, exercer inspecção sobre as pessoas e empresas que lidam com tais substâncias, enfim, manter um processo de fiscalização do comércio internacional que permita detectar as operações suspeitas.
Como se salientou, os mecanismos de controlo são ainda menos rígidos que os previstos na CSP71, face à natureza das substâncias, as quais só mediatamente podem ser usadas no fabrico de drogas, e às quantidades envolvidas, mas as suas características fundamentais são similares àquelas, tendo também sido cometidas ao OICE funções de fiscalização a nível mundial.
E diga-se já que há sinais positivos de que o sistema começa a funcionar e a produzir resultados, no que toca a este segmento de comércio. Aliás, a adesão rápida à Convenção de 1988 de uma parte significativa de países (mais de 70% dos Estados de todo o mundo em cerca de oito anos) era de bom augúrio.
A mero título ilustrativo, podem referir-se as enormes quantidades de efedrina — usada como precursor no fabrico da metanfetamina — detectadas, a partir de 1994, bem como de anidrido acético, produto químico essencial para o fabrico ilícito de heroína (25). Nestas operações sobressaiu a cooperação dos Governos envolvidos cuja informação sobre operações suspeitas foi canalizada na maior parte das vezes através dos órgãos próprios das Nações Unidas.
Uma vez que a malha do controlo é mais larga que a usada para os estupefacientes e psicotrópicos, os riscos de haver transações que se escapam é maior, para além da possibilidade de fabrico clandestino dos produtos químicos. E — acrescentaríamos — para além de nem todos os países que aderiram à Convenção terem ainda preparado a sua legislação e posto de pé as respectivas estruturas e de haver empresas e funcionários negligentes ou mesmo corruptos, etc.
Só que não se vê como possa ser levantado um dique ao fabrico de drogas sintéticas — a epidemia que se avizinha — sem contra-medidas deste género.
Ora, este modelo de controlo de um outro mercado lícito — o daquelas substâncias com «vocação» para serem desviadas para o fabrico ilícito de droga — apresenta virtualidades para garantir a prazo tal objectivo, embora seja previsível o seu «alastramento» a outras substâncias, pelo que deve ser accionado e implantado.
Volta-se, assim, à questão do mercado ilícito, isto é, do combate ao tráfico.

E vem a solução repressiva baseada na Convenção de 1988: incriminação e punição severa das condutas de tráfico e de branqueamento de capitais dele provenientes aliada ao reforço da cooperação internacional.
Embora se encontre a dar os primeiros passos, também aqui se notam alguns indícios positivos, nomeadamente no que toca à luta contra o branqueamento de capitais, apesar de grandes dificuldades na sua detecção.
Aparecem os primeiros casos de julgamentos com sucesso (26), podendo estar a deparar-se com uma constatação interessante, qual seja a da extensão deste tipo de preocupações do legislador a outras formas de criminalidade para que só agora se desperta e que provocam idêntico branqueamento de capitais, como sejam os casos da criminalidade económico-financeira, de corrupção, proxenetismo, tráfico de armas, etc. Situações essas que por certo irão travar alguma tendência para a criação de regras processuais específicas no direito da droga (a não ser que se limitem a importá-las).
Mais importante será a afirmação, por esta via, de princípios que de algum modo andam às vezes esquecidos, como o da igualdadede oportunidades e de compensar aqueles que mais trabalham, e não os que são mais «expeditos» e menos embaraçados por peias morais.
3. As críticas ao sistema
3.1. Estamos então chegados à discussão crítica do sistema engendrado e que tem carácter universal.
Se alguma aquisição de consenso se obteve nos últimos anos foi a de que as soluções a aplicar não podem ser atributo ou património de um Estado ou região.
Eis uma síntese, algo corrosiva, dessa crítica, produzida há alguns anos, mas que continua a repetir-se (27):
«Uma vez que as mesmas causas produzem os mesmos efeitos, assiste-se hoje à reprodução do fiasco americano elevado ao expoente dez e à escala planetária: o «gin de banheira» é substituído pela heroína falsificada, a corrupção do eleito local pela do Chefe de Estado, a complacência do juiz pela do Tribunal Supremo, a fortuna do «pé ligeiro» pela da mafia internacional… Porque a proibição é aliada objectiva dos traficantes e a primeira fonte de financiamento do crime organizado. A extensão do fenómeno é tal que outros efeitos perversos se manifestam: o sistema bancário é contaminado pela reciclagem do dinheiro do tráfico; o custo orçamental da luta antidroga aumenta sem cessar; a polícia e as alfândegas são incapazes de atingir mais do que dez por cento das drogas em circulação; enchem-se as prisões, enquanto a oferta de droga não cessa de aumentar… Por isso a repressão enerva-se tornando-se cada vez mais atentatória das liberdades individuais. Os direitos elementares da pessoa humana são injuriados; leis inconstitucionais são votadas…, as liberdades ameaçadas. O direito da droga envenena a atmosfera do planeta.»

Especificamente quanto aos riscos para os sãos princípios de um Estado de direito vem-se dizendo, quanto ao direito da droga (28):
— Sai ferido o princípio da legalidade, na medida em que se prevêem tipos vagos ou imprecisos, na ânsia de criar círculosfechados e de abarcar todas as condutas pretensamente ofensivas de bens jurídicos, não se distinguindo as condutas que criam perigo para a saúde das que o não criam;
— O mesmo sucede quanto ao princípio da proporcionalidade, entre a gravidade da pena e o valor do bem jurídico protegido, não se destrinçando entre as diversas formas de participação e adoptando aqui penas comparativamente muito mais severas que em outros delitos contra a saúde ou, por exemplo, contra o ambiente;
— Em muitos casos — por se tratar de crimes de perigo — antecipa-se exageradamente o momento da incriminação para estádios em que o risco para a saúde ainda é muito dis-
tante;
— Ofende-se o princípio da igualdade quando se não distingue adequadamente entre o pequeno, o médio e o grande traficante.
Ademais, são questionáveis as medidas que concedem privilégios aos «arrependidos» — aqui sim normalmente grandes traficantes — a figura do agente provocador (e mesmo o mero agente infiltrado), as entregas controladas, a inversão do ónus da prova quanto à origem dos bens pretensamente provenientes do tráfico, a quebra do sigilo bancário, enfim, as escutas telefónicas e o acesso a registos informáticos…
Isto tudo sem embargo de se reconhecer o papel que os magistrados desempenham na transposição das leis abstractas para a sua aplicação em concreto, afeiçoando-as exactamente àqueles princípios que, ao fim e ao cabo, estão imanentes no sistema jurídico.
3.2. Nesta vertente repressiva, vozes qualificadas se têm levantado apostrofando de perdida a guerra que se trava.
Não há muito tempo foi isso mesmo que disse o secretário-geral da OIPC — Interpol, a despeito de ter depois emendado para uma variante mais suave, pois apenas quereria chamar a atenção para o papel que outras medidas, designadamente preventivas, podiam e deviam desempenhar.

Muito recentemente, em Portugal, o Presidente da Assembleia da República, Dr. Almeida Santos, com a oratória invulgar e a inteligência admirável que lhe são reconhecidas, protagonizou essa crítica, pelo menos em duas ocasiões (29).
Vale a pena determo-nos sobre ela.
Numa primeira, apontou o dedo às causas da expansão da droga e, recusando as explicações unitárias, evocou «a nova identidade do homem moderno, desembaraçado de tabus, referências e valores — cívicos ou morais — desquitado de coesão e solidariedade…»
Indagando do porquê desta situação, alude às consequências do crescimento demográfico, à explosão científica, às vertiginosas mutações sociológicas, ao nível da família, da escola, das igrejas, da informação, ao abalo provocado nas colunas do templo da autoridade, à tábua de valores tradicionais «feita em cacos», deixando o homem «livre mas desligado e desprotegido», vazio e por isso apto a provar o fruto (ao princípio) agradável das drogas.
Cáustico até um certo desespero, afasta «a esperança em ideias feitas e soluções que já provaram não conduzir a nada». Incita a uma experiência a nível global, a «tentar algo de diferente» que possa fazer renascer uma verdadeira esperança.
Antes, porém, de examinar a proposta concreta — v. adiante, ponto 4.5. — que veio a ser feita, gostaria de assinalar dois momentos que ressaltam daquela crítica: claramente se afirma não se possuir uma «posição firmada», o que só abona a clarividência de propósitos construtivos ao mesmo tempo que releva a complexidade das questões; por outro lado, reconhece-se que o êxito da repressão criminal relativamente aos crimes mais graves em geral não é aliás muito mais significativo que no combate ao tráfico.
Mas se deitarmos os olhos por relatórios oficiais o eco que se recolhe não diminui a angústia. Tenta-se à lupa encontrar um país que se possa gabar de um resultado positivo. Já se considera bom quando se trava a expansão do fenómeno, porque os consumidores e toxicodependentes não aumentaram, porque a circulação de droga parece contida, porque se detectaram com sucesso as primeiras operações de branqueamento de capitais e se apreendeu algum desse dinheiro sujo.
Se bem que não se deva minimizar o esforço que vem sendo feito pelo Programa das Nações Unidas para o Controlo Internacional da Droga (PNUCID), o órgão executivo mais directamente incumbido de colocar em acção as directrizes emanadas das convenções e da interpretação que delas vão fazendo as Nações Unidas, inclusive a própria Assembleia Geral. Esforço que se pode consubstanciar em três vertentes de assistência técnica aos Estados Partes: na preparação de planos de acção, no desenho e implantação das estruturas necessárias ao desempenho desses planos de acção, na criação ou adaptação dos mecanismos legais respectivos (30).
Num certo contraponto, muitas declarações públicas a nível de reuniões internacionais, feitas por altas individualidade políticas, são hoje quase uniformes na exposição dos malefícios da droga e da sua proliferação, mas também na vontade de não baixar os braços, ainda que a imaginação para novas soluções vá sendo guardada na mesma arca em que descansam certos tabus e preconceitos. Num ponto sensível se nota em tais discursos internacionais essa progressiva uniformidade, exactamente o do afastamento de quaisquer vias de liberalização do consumo de droga.
Poderíamos dizer que aparece no conteúdo geral das declarações sobre o fenómeno — e na discussão livre que se vem travando na busca de melhores soluções — uma repartição em pedaços distintos: a linguagem oficial que não pode soltar-se do direito convencional e interno com a pouca maleabilidade que aquele deixa; o pensar reformista daqueles que esquadrinham alternativas mais eficazes que as actuais; os que se insurgem contra qualquer esquema proibitivo de consumo de droga ou, mais moderadamente, advogam posições intermédias para certas drogas.
E como pano de fundo não pode ser depreciado o sentir geral da população — que os inquéritos e outros instrumentos de medida nem sempre conseguem captar com fidedignidade — e, em particular, o dos parentes ou amigos dos consumidores habituais ou toxicodependentes que sofrem as consequências na carne e no espírito, quase tanto como aqueles.
É no contexto crítico das soluções vigentes (ou da sua falta) que se suscita a discussão sobre a despenalização do consumo de drogas — de todas ou apenas de algumas — como modo de intervir num dos pólos do mercado, neste caso, o da procura. Ponto a que voltaremos, posto que haja hoje relutância em abordá-lo criticamente em fora internacionais, como referimos.

4. Visão prospectiva: evolução possível
4.1. De qualquer modo, o panorama é de molde a suspeitar que vamos carregar este fardo para o próximo milénio.
Há que admitir uma insatisfação, mais ou menos difusa, sobre a escassez (dizem alguns, a ausência) de resultados no combate à droga, sendo certo que o movimento ao redor das convenções já dura há cerca de um século.
Embora, como se viu, a história nos mostre que, por exemplo em países do Oriente, especialmente na China, onde a situação vivida no início do século era catastrófica, tenha havido um recuo na toxicodependência, uma nítida melhoria (31).
O percurso seguido consistiu num ataque por etapas: tentativa de controlo do mercado lícito no que concerne a um número cada vez mais alargado de substâncias que por si podem produzir dependência física ou psíquica ou que podem ser desviadas para o fabrico das mesmas, com o objectivo último de garantir a disponibilidade das drogas apenas para fins médicos e científicos; alargamento sucessivo das medidas ao maior número de países do mundo e estreitamento da cooperação internacional.
Mas entretanto a população cresceu, o comércio liberalizou-se, a globalização da informação é um facto — todos cada vez sabem mais de tudo o que se passa no planeta —, os canais do abastecimento paralelo para fins recreativos expandiram-se, movidos pela alavanca do lucro fácil, o que equivale a dizer, o consumo de drogas fora de finalidades terapêuticas tem-se expandido.
E há exemplos tristemente elucidativos de lugares no mundo em que se atingiram proporções verdadeiramente assustadoras.
Países como o Afeganistão e o Paquistão — do designado Crescente de Ouro — continuam a ser dos principais fornecedores de heroína, mas agora também da resina da cannabis, que se encaminha para a Europa. Todavia, o que não deixa de ser igualmente grave é que o Paquistão alberga na sua população mais de dois milhões de toxicodependentes (32).
De Mianamar (antiga Birmânia ou Bruma) diz o OICE, no seu Relatório anual de 1996: «… permanece um dos maiores produtores de ópio e dos maiores fornecedores de heroína do mundo. A rendição de Khun Sa, principal organizador do comércio ilícito de drogas, e o cessar-fogo concluído entre o Governo de Mianamar e os grupos de insurrectos, fizeram evoluir a situação no Triângulo de Ouro…» o que se espera ardentemente seja para melhor.
Uma conjuntura extrema foi detectada por uma missão recente do OICE enviada ao Cambodja que, não se esqueça, acabou de sair de uma guerra civil que durou cerca de duas décadas e levou ao holocausto de 2 milhões de pessoas. Alguns exemplos: em Pnom Pen operam 750 farmácias, das quais cerca de 600 são ilegais e distribuem principalmente produtos farmacêuticos contrabandeados dos países vizinhos; em processos judiciais pendentes, as amostras para testes de detecção de drogas são enviadas para os EUA, por se desconfiar que a pressão dos traficantes sobre os serviços locais poderia levar à troca das amostras; num país de economia mais que debilitada existem cerca de 40 bancos naquela cidade, muitos deles sem clientes visíveis, enquanto a instalação de casinos e hotéis de luxo prospera.
Tudo sinais de que as fontes costumadas de abastecimento estão activas e, por outro lado, não é pelo facto de os países se encontrarem em guerra que abrandam, havendo mesmo indicações de que o tráfico de drogas caminha de braço dado com o das armas.
Porém, se atentarmos na América Latina verificamos que o consumo de drogas clássicas na região coexiste e floresce já também com o cultivo da papoila do ópio e a sua transformação em heroína (compare–se com o que se disse para o Afeganistão).
No início do corrente ano, as autoridades da Colômbia descobriram e desmantelaram o maior laboratório clandestino de fabrico decocaína alguma vez encontrado nesse país. Localizado na Província de Guanviare, em plena selva amazónica — zona partilhada por vários países e de dificílimo controlo — contava com duas pistas de aterragem, alojava mais de 100 trabalhadores e produzia cerca de duas toneladas diárias (33).
Se lançarmos uma olhada para mais próximo, designadamente para a Europa Central e Oriental, constatamos mais uma vez que a mudança ou mesmo a desordem económica e social voltam a ser campo fértil para a irrupção do mercado da droga, que se infiltra e acasala em promiscuidade com a restante criminalidade organizada. E se, por exemplo, na Europa Ocidental se dá uma certa estabilidade no consumo de heroína, logo surge na moda uma expansão de outro tipo de droga, no caso, a metanfetamina conhecida por ecstasy (34).
E quanto a exemplos positivos?
Contam-se pelos dedos: na Europa, a Suécia — lembre-se que os países nórdicos eram há uma década os mais permissivos —, e talvez a Áustria; na África alguns dos países islâmicos; no Oriente, Singapura, em certa medida o Japão, a China, apesar de tudo e tendo em conta o volume da sua população; na Oceânia, de algum modo a Austrália pelo interesse que demonstra em atalhar a situação. E nem se pode dizer que nestes países se apliquem políticas uniformes.
Perante este quadro, que embora enfermando de dados pouco fiáveis, e em que se fazem ressaltar quase morbidamente ou às vezes com segunda intenção — veja-se a coincidência com que o tema é trazido à discussão em períodos eleitorais — os aspectos negativos, é natural que circulem com insistência propostas de mudança.

4.2. Sem termos o propósito de entrar numa discussão aprofundada, para o que nos minguaria preparação, não se poderá nesta matéria omitir uma palavra, ainda que muito breve, sobre outro tipo de drogas, ditas lícitas, o tabaco e o álcool.
Introduzido em França por Jean Nicot, em 1560, e divulgado por todo o mundo, o tabaco poderá hoje estar na origem de cerca de 2,5 milhões de vítimas por ano.
Elogiado por uns, combatido por outros mediante penas severíssimas (35), dois séculos após a sua aparição descobre-se o seu valor fiscal e daí até aos monopólios estaduais vai um passo, para depois entrarem no circuito as multinacionais dos nossos dias.
Diz-se cada vez com mais frequência que o Estado exibe aqui verdadeiramente o rosto de Janus: numa face assume-se como pedagogo da juventude e da população em geral, na outra, como promotor ou, pelo menos, beneficiário do produto, aproveitando-se do rédito fiscal.
E tal como sucede com a cannabis, lá aparece a UE a apoiar a produção «indígena» de tabaco, ao mesmo tempo que o Parlamento Europeu pede à Comissão uma acção vigorosa contra o tabagismo.
Não há dúvida, porém, que se assiste a uma campanha generalizada contra o uso do tabaco, pondo em relevo a sua ligação a certo tipo de doenças (cancro, bronquites crónicas, doenças cardiovasculares). Proíbe-se ou reduz-se a sua publicidade, alerta-se para os prejuízos do seu uso para a saúde, limitam-se os espaços dos fumadores e começa a pôr-se em relevo o direito dos não fumadores, inclusive através de pedidos de indemnização pelo «fumo passivo».
A esta cruzada se junta a OMS, que manifesta a pretensão de preparar uma convenção internacional antitabagismo.
Não se demonstrará qualquer originalidade ao reconhecer esta incongruência de posições por parte dos Estados e como afinal a insensibilidade se instala e se digere a hipocrisia.
Continua a ser esta a preocupação que me assola: vamos também assimilar até à indiferença os consumos de outras drogas, muitas delas mais perigosas que o tabaco, para daqui por alguns anos iniciarmos o movimento contrário?
Por seu turno, o exemplo do álcool ainda se mostra, pelo menos em algumas partes do mundo, mais enraizado que o do tabaco.
Acompanhando a história da humanidade, o consumo de bebidas alcoólicas tornou-se numa componente económica de enorme vulto, com especial expansão nos países menos desenvolvidos (36). Pode com razão dizer-se que este é um tema em que os interesses públicos estão submetidos aos privados.
A tal propósito, é muitas vezes invocado o que sucedeu com a experiência da Lei Seca nos EUA.
A partir de um movimento de certo puritanismo, apoiado também pela ideia de que o álcool enfraquecia a capacidade dos combatentes da guerra, e depois de experiências restritivas feitas na maior parte dos Estados, avançou-se para uma proibição constitucional (em 1917) do fabrico, venda e transporte de «intoxicating liquors» no território dos EUA.
Esta proibição, porque praticamente localizada num único país, desencadeia necessidades de execução da lei para as quais as autoridades não estavam preparadas, abre um conflito interno entre os que são a favor e contra a proibição, a nível internacional os interesses do comércio interpõem-se aumentando as dificuldades, explode um surto de criminalidade organizada em grupos que procuram dominar os mercados negros, e os cidadãos duvidam da vantagem da lei, com assento na própria Constituição (é revogada em 1933, tendo a experiência durado 13 anos).
O que não se costuma realçar é que os casos de alcoolismo diminuíram de 30 a 50%, a incidência da cirrose do fígado nos homens passou de 29,5 em 100 000, em 1911 para 10,7, em 1929, e a produtividade do país aumentou.
Parece-nos pouco apropriado esgrimir hoje com este exemplo, apenas porque à volta do consumo de droga têm surgido organizações criminosas, o principal argumento invocado. Creio haver duas grandes diferenças em relação ao que se passou nos EUA e ao condicionalismo actual do combate à droga:
— Não se trata do movimento de um país ou de uma região do mundo mas de toda a «aldeia» que é cada vez mais este mundo, no qual os factos têm uma dimensão planetária;
— Desapareceu o radicalismo, traduzido na supressão completa do abuso de drogas, pretendendo-se neste momento e tão-só, tal como relativamente a outros fenómenos de consequências nefastas, contê-lo dentro de proporções razoáveis.

4.3. O que não pode esconder-se é que de algum modo se reedita, a nível mundial, neste campo das drogas, a oposição dos tempos da lei seca entre os proibicionistas e os não proibicionistas, abolicionistas ou liberalizantes.
Sem repetir a dialéctica (37) — que vai ficando cada vez mais gasta — haveria que tentar, todavia, salientar quais são os pontos fracos de cada uma das teses em confronto.
Comecemos pela antiproibicionista ou abolicionista.
Deixando de lado a hipótese da total liberalização incontrolada de drogas hoje sujeitas ao controlo das convenções — que ninguém com um mínimo de bom senso defende — mas começando apenas pela liberalização das drogas ditas leves, para depois eventualmente se passar às outras, com modalidades de intervenção do Estado mais ou menos rígidas quanto ao domínio da oferta, o seu ponto fraco é o da falta de experimentação em qualquer lugar em termos de se colher uma indicação com um mínimo de rigor sobre a sua validade.
No que toca à proibicionista, os seus pontos fracos têm a ver com as dúvidas, que para alguns são certezas, sobre os resultados até agora alcançados com a sua aplicação e que estão de alguma maneira expressos no que acabámos de dizer. O fenómeno não só não terá sido contido como tem progredido e, por exemplo, na política de eliminação ou erradicação de culturas de plantas, nomeadamente através de projectos de substituição — no Extremo Oriente, no Norte de África ou na América Latina — os sucessos são mais do que discutíveis, parecendo mesmo que por cada hectare de cultura substituída surgem dois de cultura ilícita. Mas para além de argumentos que têm a ver com princípios, o que é esgrimido com mais insistência respeita aos efeitos da liberalização no aumento provável do consumo de drogas com as consequências a nível de saúde individual e colectiva e dos correspondentes encargos sociais, despesas de tratamento e um maior número de indivíduos desempregados vivendo a cargo da comunidade activa.
Este último aspecto reconduz a questão ao mesmo ponto da teoria antiproibicionista, ou seja, ao campo das meras suposições, já que se reverte sobre a questão da não experimentação.
Recorde-se a este propósito o ensaio dos coffee-shops ainda em curso na Holanda, no qual, através do princípio da oportunidade no exercício da acção penal, se vem permitindo, na prática, o consumo não sancionado de cannabis. Independentemente de outros aspectos de ordem jurídica, que deixamos entre parêntesis, ao indagar-se das autoridades holandesas sobre o eventual aumento de consumidores deste tipo de droga a resposta não é clara, pois embora se admita esse incremento, logo se acrescenta que em comparação com outros países, nomeadamente os EUA, a percentagem de utentes não é maior.
4.4. Porque o que está em causa é o debate, gostaríamos de retomar a discussão, ainda que por momentos, das propostas que em Portugal têm sido feitas publicamente e também de uma outra, defendida em França (38) e denominada do «comércio passivo».

4.4.1. Comecemos por esta, a qual se propõe regulamentar o uso de substâncias susceptíveis de provocar dependência — que não podem ser tratadas como mercadorias comuns — no respeito das liberdades individuais e na salvaguarda dos interesses da sociedade.
Na base da proposta está a supressão das regras que modernamente constituem um incitamento à produção, venda e consumo de produtos. Por isso, os princípios desta tese seriam os seguintes:
— Monopólio nacional para a produção, importação e distribuição de cada categoria de drogas, sendo o Estado a tratar com os outros monopólios nacionais;
— Exclusão do direito a marcas, insígnias e publicidade, e uma política de preços guiada pelos interesses sanitários da população e pelo propósito de eliminar os traficantes, sendo uma tarificação hábil o meio de encaminhar os consumidores para os produtos menos nocivos.
Reconhece-se, porém, que se o «comércio passivo», poderia vir a roubar o lugar ao traficante, já seria incapaz de suprimir os problemas da toxicomania. Então haveria que complementar com outros princípios:
— Uma informação clara ao consumidor sobre os perigos da absorção de cada droga, e não um simples alerta de moderação;
— Como o consumo de drogas acaba por reflectir-se em custos sociais, e de acordo com o princípio de que «quem prejudica paga», a taxação a impor seria proporcional à perigosidade social da droga comercializada, revertendo para os organismos sociais de combate à mesma.
Neste quadro, o consumidor seria remetido para o estatuto de utente doméstico e discreto.
Quanto aos toxicodependentes, a sujeição a tratamento seria facultativa, salvo se decretada por um juiz e quando a toxicomania fosse prejudicial para outrem.
O proponente desta teoria recorda que ela já se aplica quanto às drogas usadas para fins medicinais ou científicos, pelo que bastaria aplicar a Convenção Única ao comércio internacional de estupefacientes para fins não médicos.
Seria aplicada às drogas cujo risco de abuso fosse mais evidente, podendo começar-se pela cannabis, a título experimental ou probatório. Não seria de excluir o risco da banalização do seu uso, problemas sanitários e sociais decorrentes do «canabinismo» crónico, enfim, o aumento do consumo, o qual poderia ser compensado por uma diminuição do consumo do tabaco e do álcool com os quais entraria em concorrência.
Não nos propomos entrar na crítica detalhada da tese, a qual assenta na ineficácia e descrédito do sistema proibicionista, nem também na animadversão fácil contra o inovatório. Apenas sublinharia dois aspectos:
— São bem detectáveis na proposta os receios pelas suas consequências sociais, sendo certo que se abstrai de um aspectoque, a nosso ver, continuará a ser essencial, o de saber até que ponto é lícito, eticamente adequado, proporcionar o consumo de drogas tão perigosas como a heroína, os alucinogéneos, as anfetaminas, por razões meramente recreativas;
— Pegando num único ponto de índole prática — o da fixação do preço das drogas —, será bastante para ver das dificuldades com que se defronta: se esse preço for fixado em montante superior ou mesmo igual ao do mercado ilícito, é evidente que este mercado não vai desaparecer (veja-se o caso do contrabando de tabaco); se for fixado em montante inferior, nomeadamente porque o monopólio estadual pretende reduzir os preços à custa da aquisição das matérias primas a preços baixos aos produtores, então as colheitas podem transbordar para o mercado ilícito (39).
4.4.2. Retomemos a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Assembleia da Republica, Dr. Almeida Santos.
Reafirmando que não vale a pena «depositar esperanças em soluções que já se viu que o não são», estigmatizando o tráfico como a causa próxima do consumo, e considerando o toxicodependente como um doente a exigir tratamento, o seu apelo essencial é de desactivar o móbil do lucro do traficante, levando à morte do seu próprio deus. Para tal visiona mais uma convenção multinacional de grande espectro na qual os Estados se obrigassem «a adquirir a baixo preço as drogas na origem, e a fornecê-las gratuitamente, em estado puro, aos possuidores de cartão de identidade como toxicodependentes, com certificação médica da droga de que dependem e da quantidade mínima de que precisam».
Do que vem de dizer-se ressalta a similitude de objectivos entre esta proposta e aquela outra explanada em França.
A sua grande novidade em comparação com a anterior, é a da distribuição da droga por forma gratuita e sob controlo médico, apenas a toxicodependentes, numa escala mundial.

Perante a possibilidade de o consumo disparar, a resposta está na necessidade de experimentar… para ver!
Para além do grito de alarme que significa, vindo de quem vem, em dois aspectos, pelo menos, tem razão o Senhor Presidente da Assembleia da República: na assinalada gravidade do status quo, e na imparável fatalidade de se debaterem outros caminhos quanto ao mercado ilícito de drogas.
Haverá, todavia, que distinguir.
Se a proposta de controlo da oferta de droga visa apenas os que sejam toxicodependentes, e o seu fornecimento deve ser feito mediante controlo médico, a originalidade residirá na distribuição gratuita de todas as drogas de que alguém se torna dependente, completamente desligada de finalidade terapêutica (haveria médicos que se prestassem a isso?).
Se essa distribuição de drogas não abrange os consumidores ocasionais, então para estes continuaria a vingar o mercado ilícito e os fabulosos lucros dos traficantes. Aqui não seria, por certo, justificável de algum modo a distribuição de droga gratuita pelo Estado pois então não se vê onde haveria «economia em vidas, em exclusão social e em marginalidade…»
4.4.3. O emérito penalista, Prof. Figueiredo Dias, também tomou posição pública (40), repetida no presente Seminário, sobre alternativas possíveis ao figurino jurídico vigente na maior parte dos países de proximidade cultural com o nosso, situando-se num ponto que pretende ser nem de criminalização nem de descriminalização totais, antes no seguimento de uma via reformista e não radical.
Merece-nos total concordância a posição de não aplicar aos consumidores habituais de droga ou aos toxicodependentes a catalogação importada do criminólogo Schur, dos «crimes sem vítima», que aqui nunca nos pareceu aplicável, ao salientar estarem geralmente em causa «bens jurídicos de terceiros e da própria comunidade — também ela titular de bens jurídicos autónomos… que, no estado actual das legislações, não podem deixar de ser defendidos perante agressões tanto do traficante, como (embora com menor frequência e importância) do próprio consumidor». Isto não poderá ser esquecido «em nome de pré-juízos doutrinaristas…» — diz-se.
Recordados os postulados da intervenção do direito penal — não moralista mas protector de bens jurídicos, actuando apenas como ultima ratio, neste caso com especial atenção ao desenvolvimento das «personalidades em formação», isto é, dos jovens, sendo as sanções de finalidade exclusivamente preventiva e com salvaguarda sempre da dignidade da pessoa humana — são adiantadas quatro proposições (teses):
1. É injustificável a criminalização da produção, venda, detenção e consumo de drogas de baixo potencial — exemplo paradigmático a cannabis — relativamente a adultos, por não haver lesão de bens jurídicos alheios, devendo merecer um tratamento semelhante ao do tabaco e do álcool, inclusivamente quanto à eventual fiscalidade a que as sujeitaria (o que suporá um abastecimento legalizado).

2. Deve ser mantida a criminalização da produção, venda e consumo das drogas de elevado potencial de dependência, não porque exista um bem jurídico a proteger quando o viciado se autodestrói, mas pelos interesses jurídicos de terceiros e da sociedade, nomeadamente de evitar a propagação de doenças graves (caso da SIDA) bem como da criminalidade secundária, e também pelos custos sociais e económicos a suportar pela sociedade em relação aos dependentes «em regra incapazes para qualquer espécie de trabalho» e cujas expectativas de cura são longínquas.
3. Suposta a criminalização do consumo de drogas duras ela deve ser restringida aos comportamentos que em concreto se mostrem susceptíveis de criar um perigo para bens jurídicos de terceiros ou da comunidade, penalmente protegidos, segundo um tipo legal específico com os seus pressupostos e os seus efeitos próprios.
4. Os toxicodependentes de drogas duras devem poder eximir-se completamente a uma eventual responsabilização penal se aceitarem voluntariamente o tratamento. Não se tratará de terapia coactiva, e além disso o Estado obriga-se a tratar o toxicodependente, podendo-lhe distribuir opiáceos, sob controlo médico, se adequado; o tratamento relevará da assistência social e não teria qualquer natureza penal; o mercado de opiáceos ficaria dividido num mercado em parte legal e em parte ilegal (este, para os que não quiserem tratar-se, ou tendo solicitado o tratamento, não venham ainda a ser considerados dependentes).
É o próprio Prof. Figueiredo Dias que acaba por colocar reticências e pouco entusiasmo na sua proposta alternativa — com «nada de revolucionário ou sequer de verdadeiramente novo» — baseada nas experiências britânica e holandesa, augurando que uma solução definitiva só se alcançará através de uma política sócio-cultural de longo prazo, que elimine patologias sociais presentes, em particular integrando os jovens num novo tipo de comunidade mais virada para o bem comum e a sua justa repartição.
Que dizer desta proposta alternativa?
Logo ao apresentá-la se faz a prevenção de que ela foi pensada exclusivamente no plano da política criminal sem se cuidar das suas consequências na formulação legislativa e nos problemas práticos que possa desencadear no estádio actual. E, na verdade, a ideia que se colhe é muito mais a da conformação com parâmetros teóricos e dogmáticos — evidentemente também humanos — do que com o seu impacto numa realidade que se deseja alterar.
Novidade em relação à Holanda — no que respeita à legalização das drogas leves — é que legalizaria também a produção e o comércio, por exemplo da cannabis, e não apenas o consumo, o que, sendo mais coerente, não afasta antes agrava a questão da conformidade de tal tese com as convenções, pois ninguém duvida que a produção e o comércio — tout court, o tráfico — de drogas incluídas nas tabelas para consumo não médico são proibidos.
Embora nada se diga sobre a forma de abastecimento do mercado, é de supor que seria privado, pois só assim se compreende o lançamento de impostos que se preconiza em face de um provável «indesejado aumento do consumo», numa atitude fiscal semelhante à do tabaco.
Atrevo-me a recordar que o tema da legalização da cannabis, ou melhor, apenas da despenalização, estudado há pouco em França (41), através da Comissão presidida pelo Prof. Roger Henrion, terminou por uma proposta escassamente maioritária de despenalização experimental do consumo, bem depressa esquecida.
Por outro lado, quanto aos toxicodependentes pesados — e não é certo que apenas os haja de opiáceos —, embora o Prof. Figueiredo Dias rejeite o tratamento compulsivo — que em regra não merece o favor dos médicos —, não poderão esquecer-se dois aspectos: a força do sistema judiciário acenando com uma isenção de responsabilidade penal para os que aceitem tratar-se — que não deixa de ser uma pressão, uma compulsão, a nosso ver legítima — não parece que possa sem mais ser aplicada a todos os toxicodependentes, designadamente os que tenham praticado crimes graves, dispensando-os de julgamento e de sanção penal, pois nem todos serão considerados inimputáveis no momento da prática dos crimes; por outro lado, muitas vezes a possibilidade de uma «aceitação voluntária» do tratamento implicará uma desintoxicação prévia (42), e esta não pode ficar à espera de uma completa liberdade de decisão do paciente, pelo que se tende hoje a distinguir entre uma desintoxicação inicial — em que seria legítima alguma compulsão — e a fase do tratamento posterior (com adesão voluntária).
4.5. As teses referidas mereciam por certo muito mais atenção do que a que foi possível devotar-lhe.
Mas chegados a este ponto é natural que se me pergunte: então como progredir?
Compreender-se-á que nas sugestões que vou apresentar tente uma perspectiva transnacional.
4.5.1. Partindo desse pressuposto, hoje unanimemente reconhecido, de que quaisquer medidas a adoptar terão de ser vistas no seu enquadramento internacional, haverá que começar por atentar no funcionamento do próprio direito internacional vigente no seu conjunto.
Ora, como se viu, as convenções de 1961 e de 1971 só agora estão perto de lograr uma amplitude universal. Posto que a adesão à Convenção de 1988 tenha caminhado muito mais rapidamente que às outras, não será de prever que antes de dois ou três anos atinja o estádio em que as anteriores já se encontram.
Não parece, pois, realista, a pretexto das deficiências de funcionamento do direito pactício no domínio do combate ao cultivo e ao tráfico — já que no tocante ao controlo dos estupefacientes e psicotrópicos para fins medicinais e científicos tem funcionado bem — substituir as três convenções por uma só que viesse a reflectir uma estratégia mais adequada e porventura mais eficaz.
Fala por si a experiência de vinculação dos cerca de 190 países que pertencem à ONU a qualquer novo instrumento internacional: seria sempre, na melhor das hipóteses, mais uma boa dezena de anos.
Simplesmente, alterar a Convenção de 1988 contra o tráfico ilícito — já que é no combate a este que residem as maiores deficiências —, também não parece indicado, porquanto a grande questão que se tem levantado é a de encontrar fórmulas que permitam articular de modo controlado o problema do consumo (a procura) de drogas para fins não medicinais com a oferta das mesmas através do cultivo e mercado ilícitos. O que tem a ver com as três convenções (43). Além disso, é bem sabido que o sistema de controlo desenhado naquela Convenção de 1988, nomeadamente para o combate ao branqueamento de capitais derivados do tráfico, apenas ensaia os primeiros passos (44), não sendo lógico inflectir medidas que ainda não foram experimentadas.
Restará, assim, tomar providências, nomeadamente alterações no âmbito das convenções vigentes ou, na medida em que isso seja possível (leia-se legal), interpretá-las actualisticamente através de resoluções proferidas pelos órgãos próprios das Nações Unidas — que adiante particularizemos.
No âmbito das Nações Unidas (45), onde se fala agora mais de debate da «regulação» do que de «legalização», anota-se que as opções são muito mais de escolha entre problemas do que entre soluções. O maior risco da legalização estaria na irreversibilidade. E apela-se ao consenso intraconvencional.
Nesta óptica, terão toda a pertinência as propostas já feitas pelo OICE e ainda não acolhidas (46), das quais daremos notícia abreviada. Elas situam-se muito mais no campo da interpretação e da adaptação voluntária a certos procedimentos técnicos do que da alteração das convenções (47).
Preconiza-se:
Quanto à Convenção de 1961:
— Medidas de simplificação no cumprimento, pelas Partes, de obrigações de fornecimento de dados estatísticos e de estimativas relativamente a estupefacientes de origem sintética;
— Um maior controlo quanto à palha da papoila do ópio, a qual está a ser usada cada vez com mais frequência para o fabrico de opiáceos;
— A classificação da cannabis e produtos derivados, de acordo com o seu real conteúdo em princípio activo (THC) — sabido que estão a cultivar-se espécies em que o teor é cada vez mais elevado —, estendendo-se o controlo também às folhas;
— Clarificar a situação da mastigação da folha da coca e do chá de coca, na base de uma avaliação científica.
Quanto à Convenção de 1971:
— Aceitarem as Partes, voluntariamente, um regime de estimativas simplificadas de consumo para as substâncias das tabelas ii, iii e iv, que permita um melhor controlo do comércio internacional;
— Substituir o sistema de inclusão de substâncias nas tabelas desta Convenção por outro similar ao da Convenção de 61 (mais rápido), o que implicará uma alteração da Convenção.
Entende ainda o OICE que seria vantajosa a possibilidade de proceder a «inquéritos locais», poder de que chegou a dispor pela Convenção de 1953 para o controlo do ópio, o qual, uma vez conjugado com as suas missões, seria um bom instrumento de fiscalização.
Acentua ainda que a assistência denominada de culturas de substituição e de desenvolvimento alternativo — insiste-se cada vez mais na assistência integrada — será de escassos resultados se não for articulada com outras estratégias relacionadas com a redução da procura de drogas e do tráfico.
Afigura-se-nos, porém, que outros passos deviam ser dados.
4.5.2. Como já o deixámos antever, há um ponto que se nos apresenta como indiscutível, qual seja o da potenciação da investigação científica voltada para a extracção de medidas pragmáticas.
Não interessa apenas saber quantos toxicodependentes existem num país, numa região ou no mundo, que indicadores se conhecem de prevalência de consumo de drogas entre os diversos extractos da população e camadas etárias. Porque infelizmente nem isso é conhecido com um mínimo de rigor mesmo nos países mais desenvolvidos economicamente.
Interessa igualmente conhecer com o máximo de exactidão que relações existem entre o consumo de droga e a prática de crimes, e que crimes (48).
Evidentemente — e aí todos concordaremos — que a investigação científica que se dirigir para a descoberta de novos medicamentos ou novas formas de tratamento dos toxicodependentes, que os auxiliem a libertar-se da droga em menos tempo e sem recaídas, será por certo bem-vinda, numa época em que se tende cada vez mais a considerá-los como doentes.
Mas diria ainda, com particular destaque, que importa conhecer com o máximo de exactidão científica os efeitos de certas drogas de uso recreativo ou social mais frequente nas diversas regiões do mundo.
Como resulta do que se disse, os casos da cannabis — e também da mastigação da folha de coca — são exemplares da confusão reinante.
Uns, dizendo que a cannabis não tem efeitos prejudiciais sensíveis; outros, continuando a afirmar a sua longa permanência no organismo e a influência nefasta ao nível dos pulmões, do próprio sistema reprodutor, para além da interferência na motivação escolar, perda de atenção, etc. (49)
Não se deverão misturar aqui os eventuais efeitos benéficos de certas drogas para a saúde — pois a evidência do princípio é uma pedra angular das convenções (a morfina, a codeína, são estupefacientes potentes cujo uso em certos casos a medicina recomenda). Se a cannabis pode trazer algum benefício terapêutico para certas situações — no que as opiniões se encontram divididas — por que motivo se não lhe há–de aplicar o regime previsto para outras drogas lícitas? Ponto é que não se esteja a abrir um canal para o mercado recreativo, se a ciência continuar a dizer que o seu uso descontrolado é prejudicial para a saúde.
Claro que se podem discutir os prejuízos, comparando-os com os provocados por outras drogas, designadamente o tabaco. Já, a meu ver, não será correcto argumentar no sentido de atenuar o seu regime pelo facto de o tabaco ou o álcool serem hoje drogas lícitas e também perigosas. A conclusão deveria levar no trilho inverso: atentar em que o tabaco (em menor medida o álcool) é tratado de maneira cada vez mais restritiva por todo o lado.
Ora, neste capítulo da investigação científica, com todo o respeito pelos esforços desenvolvidos, continuamos a achar que a OMS não tem assumido cabalmente o papel que lhe está atribuído pelas próprias convenções, ou seja, o de dizer quais as drogas que (ou se) devem ser submetidas a controlo e que tipo de controlo lhes deve ser aplicado.
Repare-se no que se diz no artigo 2.º da CSP71, a propósito dos critérios a seguir sobre a inclusão das substâncias nas tabelas.
Nos termos daquele preceito, para ser incluída nas tabelas sujeitas a controlo, a substância deve poder provocar um «estado de dependência» e um «estímulo ou uma depressão do sistema nervoso central, dando lugar a alucinações ou a perturbações da função motora, do julgamento, do comportamento, da percepção ou da disposição», bem como ser susceptível de abusos e efeitos nocivos comparáveis com as outras já incluídas.
Acrescenta-se como condição cumulativa «que existam razões suficientes para crer que a substância dá ou pode dar lugar a abusos tais que constitua um problema de saúde pública e um problema social», devendo a OMS, no seu parecer, pronunciar-se sobre a gravidade desse problema, o grau de utilidade da substância na terapêutica e que medidas de fiscalização lhe devem ser aplicáveis (50).
Cabe, depois, à Comissão de Estupefacientes aditar, transferir ou suprimir a inscrição de uma substância nas tabelas, sendo, porém, determinante a opinião da OMS «em matéria médica ou científica».
Tudo para reafirmar a convicção de que, nos termos das convenções, a OMS deve exercer um papel de mais relevo no exame das substâncias a incluir, transferir ou retirar das tabelas, sopesando as questões de saúde pública e de impacto social, a fim de a comunidade internacional e cada um dos países que a compõem adoptarem as medidas legislativas e administrativas mais convenientes, amparadas em bons fundamentos científicos. Até porque não sofre contestação o prestígio da OMS.
4.5.3. Um ponto, de algum modo relacionado com o anterior, parece estar hoje no centro das atenções e por vezes de mal entendidos, que é o de certo tipo de experiências ditas médicas e científicas levadas a cabo em alguns países.
Tomemos o exemplo da Suíça.
Com base num diploma que entrou em vigor em 15-11-1992, o Governo suíço decidiu iniciar um projecto de investigação científica e/ou uma experimentação médica, dirigido à melhoria dos problemas de saúde e de condutas anti-sociais de toxicodependentes, numa altura em que se viu confrontada com uma vaga de toxicómanos que considerou preocupante (30 000 para uma população de 7 milhões). A experiência médica inclui a ministração de heroína (injectada e fumada) a cerca de 500 toxicodependentes (51) (também morfina, metadona e cocaína em cigarros, a outros tantos).
Porque, de acordo com as convenções, a Suíça, como todos os outros Estados Partes, deve apresentar estimativas do consumo dos estupefacientes destinados a fins médicos e científicos (52), o OICE tem acompanhado com especial atenção o desenvolvimento do projecto, o qual, de acordo com a previsão inicial, devia estar ultimado no final de 1996.
Para além do impacto internacional — outros países propor-se-ão desenvolver projectos idênticos, os casos da Austrália e da Holanda —, duas dúvidas se têm suscitado e contribuído, de algum modo, para um clima menos pacífico, digamos mesmo inconveniente ao desenrolar de um projecto deste tipo: por um lado, a contestação da comunidade científica quanto à legitimidade médica de prescrever heroína a heroinómanos — ainda que em situações-limite, ou seja, de dependência registada num período mínimo de dois anos, e de recaída após, pelo menos, dois esforços terapêuticos, como se prevê no projecto suíço —, por outro, a suspeita de que a Suíça esteja a preparar o terreno para liberalizar o consumo de todas as drogas.
Foi possível envolver a OMS na avaliação do projecto, actividade que aceitou e começou a efectuar.
Neste momento, o projecto ainda não terminou, pelo que apenas existem avaliações intercalares, quer das autoridades suíças, quer da OMS.
Em minha despretensiosa opinião, este exemplo podia servir para encarar as coisas por outro ângulo.
Em vez de exorcizar a Suíça hoje — ou qualquer outro país amanhã —, havia que criar condições para que tais projectos decorressem em outro clima, aumentando-lhes as possibilidades de uma boa execução e as garantias de uma verdadeira credibilidade científica. Até porque uma conclusão se pode já ter por adquirida na experiência suíça: este tipo de projectos só é exequível por um país dotado de vastos recursos económicos.
Como proceder então?
Fazendo-os apreciar e acompanhar desde o seu início por um Comité Internacional, em que obviamente a OMS assumiria um papel basilar, mas porventura com a participação de outros cientistas e personalidades de indiscutível competência, imparcialidade e credibilidade. O que poderia implicar o indeferimento de projectos que se limitassem a repetir outros ou não apresentassem um grau de novidade suficiente ou não dessem garantias de um regular andamento.
Para o efeito talvez nem sequer se tornasse necessário modificar as convenções, desde que se salvaguardasse a competência dos órgãos de controlo já existentes e não se tocasse em preceitos imperativos.
4.5.4. Ainda com alguma conexão com este tema, perfila-se um outro que vem à ribalta com frequência e constitui foco de perturbação. Estou a referir-me à questão de saber se nos termos das obrigações assumidas em face das convenções devem ou não os Estados Partes obrigatoriamente punir (criminalmente) o consumo de droga ou, quando menos, a detenção, aquisição e cultivo para consumo.
Devemos encará-lo também sem preconceitos, até porque, a nosso ver a matéria não é líquida, por muito que pese aos mais rigoristas (53).
Na verdade, percorrendo os respectivos preceitos das convenções de 61 e 71 (54), não se encontra uma tomada de posição clara, isenta de dúvida. E o mesmo sucede por banda dos comentadores oficiais desses textos.
Diferente, todavia, se apresenta a Convenção de 88. Deparamos com o n.º 2 do artigo 3.º, onde se diz:
«Sob reserva dos princípios constitucionais e dos conceitos fundamentais do respectivo sistema jurídico, as Partes adoptam as medidas necessárias para tipificar como infracções penais no respectivo direito interno, quando cometidas intencionalmente, a detenção, a aquisição ou cultivo de estupefacientes ou de substâncias psicotrópicas para consumo pessoal em violação do disposto na Convenção de 1961, na Convenção de 1961 Modificada e na Convenção de 1971» (55).
Parece ter havido, se isso é possível, uma interpretação autêntica das convenções de 61 e de 71, no sentido de que as Partes estão vinculadas à tipificação de infracções penais dolosas pela detenção, aquisição ou cultivo (se for o caso), para consumo das drogas previstas nas tabelas.
Só que a tipificação das infracções, neste caso, as de consumo, há–de conter-se na observância dos princípios constitucionais e dos conceitos fundamentais de cada sistema jurídico nacional (56).
Países tem havido em que se põe em causa a constitucionalidade da punição do consumo, se solitário e levado a cabo por pessoa maior, no seu domicílio, o que, reduzida a disputa a tão apertados limites, normalmente perderá interesse prático.
Se, porém, deixar de ser punido não apenas o consumo naquelas circunstâncias mas também a aquisição e a detenção (ainda quedestinadas ao consumo efectuado em privado) então o problema já não será menor, dada a dificuldade naturalmente associada à prova da intenção. Tornar-se-á muito difícil para as autoridades policiais interceptar alguém na rua na posse de droga e que este não tente logo demonstrar que a destinava ao seu consumo em local privado. Será o «livre trânsito» para os pequenos traficantes.
No que concerne ao direito constitucional português, é certo que se protege a integridade moral e física das pessoas (artigo 25.º, n.º 1), existe o direito à reserva da intimidade da vida privada e familiar (ar-tigo 26.º, n.º 2) e à inviolabilidade do domicílio (artigo 34.º), devendo tais preceitos ser interpretados de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, onde se proclama a liberdade de «poder fazer tudo aquilo que não prejudique outrem» (artigo 4.º) e que «a lei não pode proibir senão as acções prejudiciais à sociedade» (artigo 5.º).
No entanto, não será menos certo que nos termos do artigo 64.º da mesma Constituição, o direito à protecção da saúde vem acompanhado do «dever de a defender e promover».
Posto que a «jurisdição» do Tribunal Internacional de Justiça não tenha sido convocada até ao momento nesta matéria de interpretação das convenções antidroga — e algumas Partes, em outro tempo de equilíbrio mundial de blocos, é certo, tenham feito reservas formais à mesma, como atrás se referiu — crê-se que no futuro pode residir aqui a fórmula para atenuar ou eliminar dúvidas sobre o comportamento das Partes, designadamente se puder ser colhida uma «opinião legal» mesmo sem qualquer litígio pendente.
Depois disso poderiam então as Partes aquilatar da bondade do regime instituído.
5. Conclusão
5.1. A informação esclarecida e oportuna que permita prevenir o consumo de drogas ou, pelo menos, o seu uso imoderado, são apontados de todo o lado como o remédio «definitivo» para superar esta aflição generalizada da humanidade. Mas até lá… importa melhorar na perspectiva de Thomas Jefferson: «The care of human life and happiness, and not their destruction, is the first and only legitimate object of good government».
Um primeiro indício de mudança expressiva pode vir da administração americana, ao aumentar significativamente o orçamento destinado à prevenção do consumo de droga pela juventude, em comparação com o do «drug enforcement», ao mesmo tempo que parece abandonar a retórica da «war on drugs», substituindo-a por uma incidência maior nos aspectos da saúde.
5.2. No uso de drogas ao longo dos séculos nem sempre os povos de cada região distinguiram com nitidez o consumo para fins de saúde do que era feito por razões religiosas ou por razões recreativas, continuando a desconhecer-se, por outro lado, as reais consequências de algumas das mais consumidas.
A cumulação de propriedades e efeitos benéficos, em especial na utilização de certas plantas, com outros funestos ou desconhecidos, tem levado a tomadas de posição com consequências contraditórias (a cannabis/cânhamo, na sua dupla veste, é disso exemplo).
A tentativa de regulação do mercado internacional de drogas para fins médicos e de investigação, levada a cabo através das convenções internacionais de 1961 e anteriores, e de 1971, obteve resultados satisfatórios quanto ao controlo do mercado lícito desse uso. Já o mesmo não se tem conseguido no que toca ao consumo de diversão ou recreativo, alimentado pelo tráfico ilícito.
Pela Convenção de 1988, encetou a comunidade internacional um conjunto de medidas destinadas a combater esse tráfico, ao mesmo tempo que introduziu um sistema de regulação do mercado no que toca a uma lista de substâncias que podem ser desviadas para o fabrico ilícito de outras drogas. Pelo tempo decorrido após a sua entrada em vigor — escassos seis anos —, posto que já seja elevado o número de países que se vincularam, ainda não é possível colher frutos visíveis da sua aplicação, designadamente na luta contra o branqueamento de capitais ou valores provenientes do tráfico de droga, a despeito dos primeiros sinais positivos. Neste domínio, a aprovação de mecanismoslegislativos e administrativos não se torna fácil, quer para os países menos desenvolvidos, quer também, pelas resistências internas, nos países industrializados, os grandes produtores dessas substâncias ou aqueles em que concomitantemente estão sediados grandes empórios bancários e financeiros.
Não são praticáveis experiências isoladas de um país ou mesmo de uma região, pois para além da conformidade das mesmas com o direito internacional, o seu êxito depende da colaboração e aderência dos países vizinhos ou da mesma região ou, no fim de contas, da comunidade internacional no seu todo.
Na história, pelo menos do último século, está patente um esforço continuado no sentido de conter a expansão do consumo de drogas para fins não médicos, através de várias iniciativas de tipo legislativo, organizacional e cultural, não parecendo aconselhável, tal como no âmbito interno, quer mudanças bruscas de estratégia, quer as simples mudanças que não tenham por detrás bons fundamentos de natureza científica ou social.
Todavia, a aceitação da ineficácia de certas medidas e a acomodação aos maus resultados, será sempre de rejeitar, até pela frustração dos mais interessados.
De preferência à preparação de novas convenções, advoga-se a rentabilização das existentes, se possível mediante simples instrumentos de interpretação actualizadora.
As medidas sugeridas — supra ponto 4.5 —, procuram ir ao encontro das preocupações mais candentes daqueles que desejam mudanças
— diria, controladas — ou, pelo menos, estratégias claras, mas dentro de uma postura de que as leis não servem para legitimar os caminhos mais fáceis, mas os melhores para os interesses da generalidade da população.
5.3. O que se vai debatendo por todo o mundo pode ser repercutido na sessão especial da Assembleia Geral que terá lugar em Junho de 1998, e de cuja preparação está incumbida a Comissão de Estupefacientes, agindo sob mandato do Conselho Económico e Social (57).
Compete à Comissão de Estupefacientes (58) agir enquanto organismo de política geral e de responsabilidade técnica, cabendo-lhe, por isso, estudar as modificações que se mostrem necessárias à boa organização do controlo internacional de estupefacientes, substâncias psicotrópicas e precursores (59).
É certo que as Convenções albergam procedimentos de emenda simplificados (60), que, embora levem algum tempo a traduzir-se em alterações consolidadas, podem tornar-se úteis para emendas consideradas consensuais.
No desempenho desta árdua tarefa de evitar que aquela sessão especial da AG se transforme em mais uma reunião de altas personalidades a proferirem declarações tonitruantes ou compromissos inofensivos, a Comissão de Estupefacientes tem de encontrar formas pragmáticas de encarar as questões, sem derrotismo, antes numa atitude de evolução controlada e sustentada, necessária para fazer renascer a esperança nos mais incrédulos, e sobretudo para fazer diminuir o sofrimento dos que se deixaram enredar nos tentáculos da droga.
(1) Cfr. especialmente a excelente obra, sob a coordenação de Koutouzis, Michel, 1996, Atlas Mondial des Drogues, Observatoire Géopolitique des Drogues, PUF, Paris, que acompanharemos de perto nesta parte.
(2) O que não quer dizer que esta cultura não esteja também a ser desviada para outros fins.
(3) Cfr. Bucknell & Ghodse, 1996, Misuse of Drugs, 3.ª edição, Londres, p. 65.
(4) Cfr. The politcs of pot, in Voice, de 08-01-1997, p. 26. Clairborne, V., W., in Washington Post, de 01-01-1997, p. 9 e Brown, David, em 21-02-1997, p. 35.
Parece não ser pacífica a aceitação do resultado daqueles referendos, uma vez que a Administração Clinton entende que afrontam a lei federal, a qual só permite a ministração de marijuana através de um programa de investigação — o que estaria de acordo com o regime das convenções, dizemos nós —, ameaçando os médicos que a prescreverem com a retirada de licenças e a exclusão do Medicare e Medicaid, o que para alguns porá em risco a sua própria subsistência. A California Medical Association veio colocar-se ao lado do Presidente, afirmando partilhar as suas preocupações na medida em que a política antidroga deve basear-se na ciência e não na ideologia.
(5) Apud Lewis, Anthony, in Bangkok Post, de 08-01-1997, p. 29.
(6) Assim descrito in Atlas mondial…, op. cit., p. 29:… «il consiste pour l’Indien à extraire d’une petite bourse, la chuspa, quelques feuilles sèches qu’il porte à sa bouche et triture sans les aveler, puis à mordre dans un petit morceau de pâte calcaire, llipta ou tocra, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il ait formé une petite boule. Après avoir placé cette dernière entre la joue et les dents, il la remue très doucement de façon à extraire progressivement le jus des feuilles, pendant quarante-cinq minutes environ».
(7) Na anestesia local oftalmológica — que ainda subsiste, praticamente como a principal utilidade, a crer em Bucknell & Ghodse, op. cit., p. 53 —, na psicoterapia da astenia, irritabilidade e desvios sexuais; o seu poder euforisante teria sido mesmo usado para combater a dependência de outra droga, a morfina.
(8) Nas histórias de Sherlock Holmes, o herói injectava-se a si próprio com cocaína a fim de se concentrar, prática que veio mais tarde a ser desencorajada pelo Dr. Watson.
(9) Fumada numa mistura com o tabaco ou a cannabis.
(10) Contados a partir da entrada em vigor da Convenção, a qual teve lugar em
13-12-1964.
As reservas transitórias estão previstas no artigo 49.º daquela Convenção.
(11) O ópio em bruto consiste no látex coagulado extraído da cápsula da papoila, da espécie Papaver somniferum L, dez dias após lhe terem caído as folhas. Mediante uma incisão na cápsula, escorre um suco leitoso que solidifica em contacto com o ar, adquirindo uma cor castanha, quase preta.
(12) Afonso de Albuquerque terá escrito a D. Manuel I explicando a importância do mercado chinês do ópio e propondo a constituição de um monopólio da sua comercialização na China — cfr. Atlas mondial…, cit., p. 22.
(13) Também se pode ver o seu relato em Caballero, Francis, 1989, Droit de la Drogue, Dalloz, pp. 37 e segs. A Câmara dos Comuns rejeitou o apelo, uma vez que não era possível «abandonar uma fonte de rendimentos tão importante como era o monopólio do ópio da Companhia das Índias».
(14) O relatório UNDCP, 1997, World Drug Report, Oxford University Press, p. 185, aponta para 13,5 milhões, isto é, 27% da população masculina adulta.
(15) Como se dizia numa Resolução votada pelo Senado americano.
(16) Promovida pelo Presidente dos EUA, T. Roosevelt, a pedido do bispo de Manilha, Mons. Brent, que fizera parte da comissão nomeada para examinar a prática «imoral» do fumo de ópio pelos chineses.
(17) A Grã-Bretanha (Índia), França, Holanda, Portugal, China, Japão e Sião. Nesta parte, a convenção foi completada pela de Bangkok (1931), com as regras de funcionamento das casas de fumo de ópio, nas quais se destaca a interdição para menores de 21 anos e um sistema de matrícula dos fumadores.
(18) Assim, ao OICE incumbe também assegurar que a produção lícita de estupefacientes no mundo seja a suficiente para as necessidades dos Estados, o que implica contactos frequentes com os principais países produtores de ópio, de onde se extrai a morfina, a droga mais consumida. Vai mesmo ao ponto de alertar para a importância de assegurarem aos pacientes dela necessitados o seu abastecimento. Ou seja, o equilíbrio a conseguir é não apenas da oferta como da procura (medicamente correcta).
(19) Aproveitou-se para inserir uma norma — n.º 2 do artigo 3.º — que se pretende mais incisiva no sentido da punição do consumo pessoal de droga, o qual, porém, se submete ao «filtro» ou cadinho da consonância com os princípios constitucionais e conceitos fundamentais do sistema jurídico das Partes. O que poderá redundar em posições diferentes a adoptar nessa matéria pelos Estados, matéria que não se mostra, todavia, líquida e se aflorará adiante.
(20) A identificação, detecção, congelamento e apreensão dos produtos retirados do tráfico implica que as Partes não possam invocar o segredo bancário na cooperação internacional — artigo 5.º, n.º 3. Uma medida de execução não pacífica — mas que a Convenção coloca na disponibilidade das Partes — é a da eventual inversão do ónus da prova no que respeita à origem legítima dos proveitos que se presumem obtidos do tráfico (artigo 5.º, n.º 7).
(21) Intento que podia levar à junção de processos no país em melhores condições para proceder ao julgamento completo dos factos, quer em razão da proximidade da prova quer do número de arguidos, mas que tarda em ser usada, talvez porque os países vêem nela uma transferência de soberania (mais um dos preconceitos ainda reinante).
(22) Referida no artigo 11.º: destina-se a identificar o maior número de implicados no tráfico, através da intervenção das autoridades judiciárias no ponto nuclear da rede da entrega da droga.
(23) No documento intitulado Effectiveness of the international drug control treaties, 1995, in Suplemento ao Relatório do OICE de 1994, NU, parágrafos 42 a 49, põe-se o dedo nestas ambiguidades, chamando-se a atenção também para a necessidade de clarificar se o consumo de «chá de coca» é ou não permitido, pedindo-se o apoio da OMS.
(24) A vontade de não derrogação dos direitos e obrigações decorrentes das anteriores convenções encontra-se reafirmada no artigo 25.º da mesma Convenção de 1988.
(25) Só no ano de 1996 foi impedido o desvio de 16 toneladas de efedrina, quantidade suficiente para o fabrico de pelo menos um bilião de doses individuais de estimulantes. O mesmo sucedeu com 300 toneladas de anidrido acético, o qual permitiria fabricar ilegalmente 120 toneladas de heroína, o equivalente a um bilião de doses individuais, ou seja, quase dez vezes mais que a heroína declarada apreendida em todo o mundo, no ano de 1995.
Para uma informação pormenorizada — cfr. o Rapport de l’Organe International de Contrôle des Stupéfiants pour 1996, Nations Unies, pp. 27-31, e o relatório técnico da mesma entidade «Precursors and chemicals frequently used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances», também para o ano de 1996.
(26) O que sucedeu no Luxemburgo, recentemente.
A tão reticente Suíça acaba de bloquear mais de 103 milhões de dólares, em 20 dos seus bancos, fundos suspeitos de branqueamento proveniente do tráfico de cocaína, depositados em contas pertencentes a Raúl Salinas, preso no México, e irmão do ex-Presidente Carlos Salinas — cfr. Financial Times, de 03-03-1997.
(27) Caballero, F., op. cit., p. x, com tradução da nossa responsabilidade.
(28) Pode ver-se, por exemplo, Copello, Patricia Laurenzo, 1995, Drogas e Estado de Direito, trad. de Maia Costa, in Revista do Ministério Público, ano 16.º, p. 39.
(29) Em 23-03-1996, por ocasião da abertura da «Conférence Internationale Drogues: Dépendance et Interdépendance», organizada pelo Centro Norte-Sul do Conselho da Europa; em 08-04-1997, ao ser apresentado o 1.º relatório anual do Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência, sediado em Lisboa.
(30) V. o citado World Drug Report, primeiro relatório deste tipo ora publicado, no qual se detecta uma postura de maior amplitude na discussão.
(31) É evidente que ao pensamento ocorre logo a questão dos meios usados, designadamente o recurso à pena de morte, que aos ocidentais e, no caso, especialmente a Portugal, o pioneiro da sua supressão, merece particular repulsa.
(32) A Europa terá entre 500 000 e um milhão de heroinómanos, o que se situaria numa prevalência de cerca de metade dos EUA — cfr. o 1.º Relatório do OEDT (1995), p. 1/8. Comparando com o Paquistão este teria uma prevalência de toxicodependentes cerca de dez vezes superior à da Europa.
Aquela amplitude entre o mínimo e o máximo, mencionada pelo OEDT, diz bem de como nesta matéria há muito a fazer, desde logo para conhecer a realidade com que se lida.
(33) V. «El País», 01-02-1997. As ligações com a guerrilha parecem evidentes.
(34) Numa publicação recente, Drogues et Toxicomanies — Indicateurs et Tendences, 1996, OEDT, relativa à realidade francesa, dá-se o seguinte retrato: o lugar dos medicamentos psicotrópicos no conjunto dos produtos consumidos é importante; o consumo de heroína (com preços em baixa) parece estabilizar; o da cocaína é mal conhecido; o do «crack» a nível limitado; confirma-se o consumo crescente do «excstasy» e alucinogéneos, em discotecas e festas de jovens; banaliza-se o uso da cannabis.
(35) Luís XIII (1620) proíbe a venda de tabaco fora das farmácias; o rei de Inglaterra, inimigo declarado do tabaco — pelo que o costume tem de desagradável para o nariz, de perigoso para o cérebro, de desastroso para o pulmão —, manda decapitar Sir Raleigh, inventor do cachimbo; na Rússia, os czares prometem bastonada aos fumadores e corte de nariz aos que o tomassem como rapé; na Pérsia, são queimados vivos numa fogueira de folhas de tabaco ou lança-se-lhe chumbo derretido pela garganta. Apud Caballero, F., op. cit., pp. 142 e ss.
(36) Como é sabido, Maomé interdita o consumo de álcool, proibição inscrita no Corão.
(37) Sumariamente enunciada no nosso artigo «Nova Lei Anti-Droga: um Equilíbrio Instável?», 1994, publicado in Droga e Sociedade, do GPCCD, Ministério da Justiça, pp. 44-48.
(38) Por Caballero, F., na obra citada. V. especialmente pp. 126-138.
(39) Cfr. esta apreciação in Atlas…, op. cit., p. 209.
(40) V. DIAS, J. F., 1994, «Uma Proposta Alternativa ao Discurso da Criminalização/Descriminalização das Drogas», in Scientia Iuridica, tomo xliii, pp. 193-209.
(41) A pedido de Simone Veil, quando Ministra dos Assuntos Sociais e da Saúde, do Governo Balladur.
(42) Em França é conhecida e praticada a injunção terapêutica, ordenada pelos magistrados para os casos de intoxicação, de consumidores habituais ou que tenham já sido interpelados por factos idênticos.
(43) Tem sido sublinhada com frequência a filosofia comum às três convenções
— restrição do uso de drogas a fins medicinais —, pelo que são interdependentes e complementares.
(44) Cfr. o que se dizia no Rapport del’ OICE pour 1995, 1996, NU, pp. 1-8, onde se dá conta do muito que resta para fazer nesta matéria.
(45) Citado World Drug Report, pp. 184-199.
(46) Cfr. o Suplemento ao Relatório de 1994, mencionado na nota 23.
(47) Rejeita-se fortemente a ideia de mais uma convenção sobre a prevenção ou redução da procura — cfr. par. 20 do Suplemento citado, mas parece adoptar uma atitude receptiva a uma outra possível convenção contra o branqueamento de capitais — par. 96, in fine.
(48) É uma área em que Portugal de algum modo foi tomando a vanguarda num estudo recente, pedido pelo Ministério da Justiça à equipa do Prof. Cândido da Agra, do Centro de Ciências do Comportamento Desviante da Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, e que veio contribuir para o começo de dissolução de alguns tabus.
(49) Em relatório de Março do corrente ano, em França, a Academia das Ciências, numa investigação dirigida aos aspectos moleculares, celulares e fisiológicos dos efeitos da cannabis, conclui que o uso da marijuana provoca efeitos tóxicos a longo termo, nomeadamente, «um ataque à função respiratória, modificações da pressão arterial, acção imunossupressora e um ataque às capacidades de memória e de aprendizagem», manifestando especial preocupação pelas espécies ditas de «cannabis vermelha», com elevado teor de THC. Aponta ainda «uma indiscutível correlação (que não permite concluir por uma etiologia) entre o consumo da droga e a instabilidade caracterial, estado de stress, tentativa suicidária e contexto familiar difícil». Sem que a Academia omita que, para certos autores, os canabinóides apresentam também efeitos potencialmente benéficos em terapêutica — extraído de Le Monde, de 29-03-1997.
(50) Há quem coloque dúvidas sobre critérios tão amplos.
(51) Não é nova a matéria da prescrição de heroína a toxicodependentes, ponto que já era examinado na década de 20 em Inglaterra e levou o Comité Rolleston a considerá–la admissível em casos de doenças terminais, ou no tratamento de toxicodependentes como parte de um plano de redução gradual da tomada de droga, ou mesmo em casos em que através desse tratamento, mediante pequenas quantidades, era possível ao paciente levar uma vida normal. Sistema que deu lugar a abusos por parte de alguns médicos e foi modificado a partir de 1968, sendo proibida a prescrição de heroína e cocaína excepto para tratamento de doenças ou em clínicas para drogados.
Na Suíça — e parece que também na Alemanha —, existem hoje as designadas shooting galleries, edifícios onde se permite a injecção de droga a toxicodependentes conhecidos do staff, drogas que não são prescritas, aí distribuídas ou traficadas.
(52) Cfr. especialmente o disposto nos artigos 4.º, alínea c), 12.º, 21.º, 1, alínea a) da CUE61, 5.º e 7.º, ambos da CSP71.
(53) Apenas resumimos aqui o que se disse numa anotação incluída in Decisões de Tribunais de 1.ª Instância — 1993 — Comentários, publicação do GPCCD, 1995, pp. 136-138.
O OICE parece não ter dúvidas, conforme se vê do que é afirmado no Suplemento já citado, parágrafos 106-108.
(54) Os artigos 4.º, alínea c), 33.º, 36.º, 37.º e 38.º, da primeira, e os artigos 5.º e 22.º, da segunda.
(55) Cfr. também o n.º 4, alíneas b), c) e d), sobre as medidas alternativas de educação, tratamento, postura, readaptação e reinserção social.
(56) Varia terrivelmente o modo como as legislações nacionais sancionam a mesma realidade ou situações semelhantes. Segundo uma prospecção recente e ainda em curso nas Nações Unidas verificou-se, por exemplo, que a posse de pequenas quantidades de droga para uso pessoal na Bolívia podia levar a tratamento obrigatório enquanto a posse de grande quantidades (tráfico) era punida com pena de prisão de 10 a 25 anos; na Colômbia, país vizinho daquele, a posse para uso pessoal não é punida enquanto para o tráfico, mesmo de grandes quantidades, a pena máxima prevista é de 12 anos; na Guatemala, a posse para consumo pessoal é punível de 12 a 20 anos de prisão e multa (diploma de 1992); o México não distingue entre a posse para consumo e para tráfico e pune-a com prisão de 7 a 25 anos; mas já o Peru não pune a posse de doses pessoais para consumo imediato (exigindo um certificado de dependência); na Ucrânia o consumo pela primeira vez é sancionado administrativamente; na China, para o consumo prevê–se um máximo de 15 dias de detenção e, se for toxicodependente, tratamento compulsivo ou trabalho forçado; em Mianamar, o toxicodependente é obrigado a registar-se para se tratar e se não cumpre tal obrigação pode ser-lhe aplicada pena de prisão de 3 a 5 anos. Panorama a merecer especial atenção.
(57) Portugal foi eleito, no seio da Comissão de Estupefacientes, para presidir ao Grupo Preparatório daquela sessão especial da AG, o que é prestigiante mas não deixará de ser, de igual modo, extremamente responsabilizante.
(58) Constituída por representantes eleitos de 53 Estados.
(59) Quanto às suas competências decorrentes dos tratados — cfr. os artigos 5.º, 8.º, 18.º, da CUE61; artigos 2.º, 3.º e 17.º, da CSP71; artigos 20.º e 21.º, da CNU88.
(60) V. artigos, 47.º, n.º 2, da CUE61, 30.º, n.º 2, da CSP71, 31.º, n.º 1, da CNU88.




















 Creative Commons Attribution
Creative Commons Attribution