Proposta para um modelo legal de cultivo e consumo de canábis por Martín Barriuso, presidente da FAC (Federación de Asociaciones Canábicas) e da associação de cultivadores PANNAGH.
E entretanto, o quê?
Nos limites da legalidade
Depois de se ter proposto um modelo mais ou menos “ideal” para regular a produção e o comércio de canábis, chega o momento de voltar a assentar os pés na terra. O cenário que acabo de planear é muito bonito, sim, mas também muito distante, por muito que falemos de propostas perfeitamente possíveis e creio que razoáveis. Vivemos num mundo onde a proíbição de drogas lidera sem concorrência e é pouco provável que a curto ou médio prazo presenciemos as alterações legais profundas que seriam necessárias para que seja possível colocar em prática esta proposta. Desta forma surge a obrigação de encontrar uma via intermédia, uma proposta de transição que nos permita avançar um pouco, sem necessidade de rendição às convenções da ONU sobre drogas.

O estado espanhol leva 40 anos de legislação proíbicionista, concretamente desde a ratificação, a 3 de setembro de 1966, da Convenção Única de Estupefacientes de 1961 e a consequente aprovação da Lei 17/1967 sobre Estupefacientes. Desde então as coisas começaram a tornar-se complicadas em Espanha, tal como no resto do mundo. Mas ao contrário de outros países, onde a mera posse e consumo de qualquer substância ilícita é punida com penas de prisão, o Tribunal Supremo espanhol decidiu, em 1974, que o simples consumo e, portanto, a posse destinada a esse fim, não deveriam se alvo de castigo penal. A partir daí, as sentenças sucessivas do Supremo em matéria de drogas, têm vindo na sua grande maioria a ratificar o critério inicial. Em coerência com aquela despenalização inicial do consumo e da posse destinada ao tráfico, o Supremo decidiu também que o chamado consumo partilhado ou auto-consumo colectivo não é um delito, nem muito menos o é o acto de proporcionar uma droga a alguém viciado na mesma quando isso se faz com fins compassivos, como o de aliviar o seu síndroma de abstinência. Muito bem, mas uma coisa é consumir uma substância e outra é obtê-la. No caso de drogas como a heroína ou a cocaína, que são às quais se referem a maioria das sentenças do Supremo sobre consumo partilhado ou doação altruísta, o normal é a compra no mercado negro. No caso do cânhamo, como bem sabemos, temos também a opção de cultivar por nossa conta e consumir sem manipulação. Se juntarmos o facto de que, no caso do cultivo em exterior, o normal é realizar uma única colheita por ano, sendo portanto, necessário garantir stock para doze meses, a jurisprudência sobre outras substâncias é manifestamente pouco adequada para o cânhamo. Por isso, dado que há poucas sentenças deste tipo referentes à canábis, por vezes acontece uma certa confusão acerca das condições em que o auto-cultivo e o consumo partilhado da planta podem caber dentro da lei, com sentenças por vezes contraditórias ou pouco claras. No entanto, ainda que o cultivo de canábis – e sua distribuição – esteja em princípio proibido, actualmente os tribunais espanhois mostram uma tendência quase unânime para absolver os casos de cultivo individual (sempre que o número de plantas se mantenha dentro dos limites do razoável), tendência esta que é também muito maioritaria nas mais conflictuosas plantações colectivas.

A este respeito, já há vários anos que Juan Muñoz e Susana Soto, a pedido da Comissão para a Droga da Junta de Andalucia, elaboram uma relatório no qual, depois de analisar exaustivamente a jurisprudência sobre a canábis e outras substâncias ilícitas, se estabelece uma série de critérios segundo os quais seria possível disponibilizar estabelecimentos onde seria possível obter canábis para fins lúdicos e terapêuticos, respeitando o enquadramento legal actual. A conclusão principal a que chegavam no seu estudo (como tal, a tentativa mais séria levada a cabo até agora para analisar o panorama legal nesta questão) era a seguinte: “Esta iniciativa apenas encaixaria no nosso ordenamento jurídico caso se configure como um projecto referente à criação de centros não abertos indiscriminadamente ao público, mas sim restringidos a fumadores de haxixe ou canábis, nos quais se exigiria como medida de controlo do acesso a condição ser consumidor habitual. Tratar-se-ia, portanto, de lugares de consumo privado entre consumidores habituais nos quais se podería adquirir e consumir quantidade que não ultrapasse o limite de um consumo normal. Não seria permitido o tráfico de canábis entre os consumidores e a quantidade de canábis adquirida deveria ser consumida no recinto”.


Os clubes de consumidores
O relatório jurídico de Muñoz e Soto significou um empurrão para alguns colectivos de utilizadores/as de canábis que procuravam forma de desenvolver as suas actividades sem fugir ao enquadramento legal. Quando foi dado a conhecer o relatório – em 1999, ainda que tenha sido publicado em 2001 – já tinham acontecido duas experiências de cultivo colectivo de carácter associativo, a experiência da ARSEC em 1994 e a da Kalamudia em 1997. Ainda que a segunda se tenha recolhido sem problemas depois de terem sido arquivadas as diligências prévias abertas pelo juíz de instrucção correspondente, o caso da ARSEC terminou com uma condenação poucos meses depois, em função da sentença do Tribunal Supremo de 17 de novembro de 1997. A sentença contra a ARSEC provocou uma paragem nas experiências de cultivo colectivo, mas Kalamudia voltou a levar a cabo outros dois cultivos – largamente publicitados nos meios de comunicação vascos – em 1999 e 2000, que nem sequer provocaram abertura de diligências prévias por parte de nenhum tribunal. Foi então que tivemos conhecimento do relatório de Muñoz e Soto, o que deu lugar a um novo salto qualitativo: A criação de associações de utilizadores (até então quase todas as associações de canábis se auto-denominavam “de estudo de canábis”), mais conhecidas como clubes de consumidores. Essas ditas associações desenvolvem as suas actividades tomando como referência o relatório de Muñoz e Soto e as experiências prévias sobre autocultivo colectivo. O primeiro a aparecer foi o Clube de Catadores de Cannabis de Barcelona (CCCB), em 2001, se bem que até ao momento, que se saiba, não levou a cabo nenhuma iniciativa de cultivo destinado aos seus sócios/as. Uma vez mais, a ideia voltaría a ser posta em prática, desta vez em Euskadi, onde a partir de 2002 apareceram várias associações com as mesmas características, até um máximo de cinco: em Bizkaia, Bangh y Pannagh; em Gipuzkoa, Ganjazz y Paotxa; e em Álava, Amalurra, dissolvida em 2005. Todas estas associações levaram ou levam a cabo cultivos colectivos associativos.

Tal como o seu próprio nome indica, as associações de utilizadores/as de canábis são formadas por pessoas que consomem canábis. Este é um requesito imprescindível para adquirir a condição de sócio/a. Em alguns casos, como fazemos em Pannagh, também se admitem pessoas que sofrem de doenças para as quais o uso de canábis está indicado, já que entendemos que, para além de se tratar daquilo a que em direito se chama de “estado de necessidade”, neste caso não há risco para a saúde pública, antes pelo contrário já que falamos de um uso medicinal com sólido fundamento científico, algo que também se reflecte no relatório andaluz. Para entrar na associação exigimos uma declaração na qual se afirma a condição de utilizador, assinada por quem deseja aceder à associação e com o aval de outra pessoa que já possua previamente a condição de membro da entidade. Tudo isto de forma a evitar que a associação se abra indiscriminadamente ao público em geral e para reduzir o risco de transmissão a terceiras pessoas. Por suposto, exige-se maioridade para poder aceder, a fim de evitar o risco de que a nossa marijuana chegue às mãos de menores. Em relação ao funcionamento da actividade de cultivo associativo, tivémos também em conta as nossas experiências prévias, especialmente a primeira plantação de Kalamudia, na qual se considerou que não havia delito apesar de não se tratar de quantidades mínimas para o consumo imediato nem existir local fechado para o seu consumo. Assim, a associação arrenda um terreno em seu nome e aí cultiva para os sócios e sócias que o desejem, em função das suas respectivas previsões de consumo, para evitar que exista sobreprodução. Somam-se os gastos gerados pela plantação (alugueres, sementes, fertilizantes, tratamentos, iluminação, viagens, salários, etc.) e dividem-se pelo total da colheita, de maneira a que a cota a pagar por cada participante (calculada em euros/grama) possa cobrir os gastos de forma proporcional ao consumo de cada qual.

Aos utilizadores terapêuticos reduz-se a cota em 25%. O pagamento dos ingressos efectua-se através de conta bancária e cartões de crédito em nome da associação, a fim de facilitar a transparência e a fiscalização dos gastos. Além disso, para evitar que alguém possa destinar uma parte da sua erva à venda, temos estabelecido um máximo anual de 350gr/pessoa, que só se pode superar excepcionalmente a pedido do interessado e explicando os motivos. Outra questão importante – e ainda por resolver – é a do transporte. No caso das associações que levam a cabo cultivos de interior com luz artificial, torna-se possível encaixar num mesmo local a zona de produção e a àrea destinada ao consumo. No entanto, este sistema é caro e exige uma grande quantidade de espaço e energia, pelo que, a partir de um certo número de sócios/as, esta solução começa a ser menos viável. O razoável, a partir de um ponto de vista económico e ecológico, é cultivar em exterior. Mas este sistema implica deslocar a marijuana, às vezes em quantidades importantes, de um lugar para outro, o que vai contra o disposto na Ley de Seguridad Ciudadana. Mesmo quando o transporte se fizesse em quantidades pouco importantes (abaixo dos 625gr, peso em que actualmente começa a “presunção de transmissão a terceiros” no caso da marijuana), de forma a que fosse possível declarar-se como destinada ao uso pessoal, haveria risco de sanção e, sobretudo, de apreensão. Portanto, a reforma da dita Ley sería uma das condições necessárias para dar um mínimo de segurança às actividades de cultivo colectivo. Mais, o desejável seria uma regulamentação ad hoc que salientasse expressamente os problemas do transporte e o armazenamento, que sería também ilícito conforme a Ley 17/1967. .

Um modelo com muitas vantagens
Em nosso entender, este tipo de plantações colectivas associativas encaixa perfeitamente na legalidade vigente, sem necessidade de qualquer reforma legal, já que o autocultivo colectivo não só já é muito praticado, como também é geralmente impune. Além disso, permite que pessoas que, quer seja por falta de meios e tempo ou por problemas de saúde, não podem cultivar por sua conta, possam contar com a associação para tratar das tarefas agrícolas e possam assim evitar ter que recorrer ao mercado negro. Se o nosso modelo se generalizasse, reduzir-se-ia substancialmente a quantidade de dinheiro que dito mercado absorve, reduziam-se os recursos públicos actualmente utilizados em tarefas repressivas e incrementar-se-ia a arrecadação de impostos por parte do estado, já que a maior parte do dinheiro que o utilizador gasta actualmente para comprar marijuana ou haxixe no mercado ilícito, sería encaminhado a outros conceitos actualmente taxados através do IVA (material agrícola, arrendamentos, electricidade) e inclusivé impostos especiais (como a gasolina, quando o cultivo implica deslocações). Além disso, as pessoas associadas beneficiariam de uma redução previsível no custo económico que o consumo implica. Por outro lado, também se podería gerar um bom número de postos de trabalho, já que, apesar de alguns cultivos poderem ser mantidos de forma conjunta pelos próprios participantes, outros poderíam ser geridos por pessoas contratadas pela associação (jardineiros, vigilantes, administrativos, etc.), com o consequente pagamento de IRPF e seguros sociais. Na opinião de varios juristas que temos consultado, o facto de que as associações disponham de empregados encargados do cuidado e custódia do cultivo, não contradiz a natureza não comercial e privada do mesmo. De facto, não existe venda porque o empregado da associação não é proprietário das plantas, mas limita-se sim a cuidar de uma propriedade dos sócios. E também não há lucro – especificamente, ganhos ilimitados -, mas sim prestação de serviços em troca da qual se recebe uma remuneração fixa em função, não do volume da colheita, mas sim do trabalho que se realiza para o grupo. Ainda que, seguramente, a maior vantagem deste sistema seja a sua contribuição para a redução de riscos e danos associados ao consumo. Acaba-se a incerteza acerca da qualidade e possível adulteração do produto adquirido no mercado negro. Num sistema de produção em circuito cerrado, o sócio ou sócia conhece a qualidade daquilo que consome, a que variedade pertence, como foi cultivado, etc. Além disso, a associação pode servir como um ponto de acessoriamento e intercâmbio de informação, ajudando a gerar uma nova cultura de uso, algo que, como já comentámos, é fundamental para uma verdadeira normalização.
Com ou sem impostos?
Jaime Prats, um dos fundadores do CCCB, já propôs há algum tempo a implementação do modelo de clubes de consumidores para normalizar o mercado de forma parcial, proposta essa que a Cáñamo retomou recentemente. Ainda que a proposta esteja pouco desenvolvida, concordo com grande parte do que é apresentado em ambos os textos, se bem que há um par de questões acerca das quais tenho opinião diferente. Por um lado, as quantidades propostas como referência. Estabelecer um consumo anual de 10-12 kg./pessoa parece-me exagerado e pode abrir portas a abusos e a mercados paralelos. Mas ainda estou menos de acordo na questão dos impostos. Segundo a abordagem de Prats, as plantações individuais estaríam isentas de impostos, mas as colectivas pagariam um imposto especial em função da produção, ao qual se adicionaría, no caso dos clubes, mais um imposto pela venda ao detalhe. Para além da contradição que supõe falar de venda ao detalhe dentro de um modelo supostamente não comercial, pagar impostos por uma actividade privada e não lucrativa supõe um agravamento comparativo. Se não há venda e fica tudo em casa, porque razão devemos pagar imposto? Por acaso paga imposto a pessoa que produz vinho para consumir em casa ou destila aguardente para oferecer aos amigos? Para além disso, ao não haver venda, não se recebe IVA e não há necessidade de se declarar este imposto, pelo que também não se recupera o IVA pago ao comprar produtos ou serviços para a associação, que desta forma se converte numa contribuinte pura. Assim não há justificação para adicionar ainda mais impostos. Enquanto não nos seja permitido funcionar com normalidade, não há razão para pagar impostos normais.

O enquadramento legal internacional
Depois da operação policial do passado mês de Outubro contra a plantação colectiva da nossa associação, Pannagh, o eurodeputado italiano Giusto Catania apresentou uma pergunta por escrito à Comissão Europeia acerca da nossa detenção. Na sua pergunta, Catania pedia que se esclarecesse a questão do autocultivo no estado espanhol. Em suma, o que pretendia o deputado era o seguinte: Se a legislação espanhola permite a constituição de forma legal de uma associação de pessoas usuarias de canábis, e se existe a possibilidade de cultivar tal planta, sempre que se faça sem fins comerciais, porque é que depois se intervém por via penal contra uma associação legalmente constituída que cultiva para o seu próprio uso? Não será uma incoerência que atenta contra o princípio da segurança jurídica e o direito à associação? A resposta da Comissão a Catania é muito clara: Não corresponde à União Europeia a regulação dos comportamentos relacionados com a posse para consumo. Para o que esteja relacionado com tráfico ilícito, os estados membros, como defensores das convenções das Nações Unidas sobre drogas, devem remeter-se às mesmas e perseguir na sua legislação o que esteja relacionado com a distribuição comercial de drogas ilícitas. Desta forma, conforme uma Decisão de Enquadramento da União Europeia, “os Estados membros garantem que o cultivo da planta de canábis, quando efectuado sem licença, seja punível”. Mas esta obrigação desaparece no caso do autocultivo, já que, como diz textualmente o comissário Frattini em nome da Comissão, “o artigo 2.2 exclui do horizonte da Decisão de Enquadramento do Conselho o cultivo de canábis para consumo próprio, ao estar definido pelas leis nacionais”.

É possível uma regulamentação própria
A conclusão que podemos extrair da resposta da Comissão Europeia a Catania é que tanto a legislação da ONU como a da União Europeia, permitem que um estado tolere o cultivo de canábis quando este seja destinado ao uso pessoal e não à sua distribuição com fins lucrativos. Portanto, é perfeitamente possível que o estado espanhol elabore uma regulamentação administrativa própria na qual se estabeleçam as condições em que se pode levar a cabo a produção individual ou colectiva de canábis, sem com isso vulnerar a legislação internacional. Tal regulamentação permitiria acabar com a actual insegurança jurídica à volta do autocultivo de canábis. Em tal regulamentação devería estabelecer-se de uma vez por todas qual é o número máximo de plantas – ou superfície equivalente, segundo se trate de cultivo em interior ou exterior – que uma pessoa pode cultivar para o seu próprio consumo individual. Em relação aos cultivos colectivos, durante este período de transição (já que o desejável sería chegar a uma verdadeira normalização legal segundo um modelo similar ao que falei no número anterior), o modelo de referência sería o dos clubes de consumidores, que tem várias vantagens sobre o modelo dos coffee-shops holandeses. Isto porque é o único que permite o cultivo (individual ou colectivo) destinado ao uso próprio, no âmbito privado e sem fins comerciais, de forma a que a regulamentação se mantenha dentro dos limites das competências reservadas aos estados, ou seja, no terreno do consumo pessoal, sem colidir com os tratados internacionais como sucede no caso da Holanda.
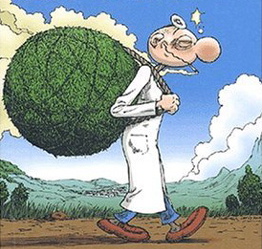
Além disso, ao se tratar de entidades privadas e não haver venda livre ao público, evita-se o chamado “turismo canábico”, que provoca autênticas peregrinações em massa a Amsterdão e outras cidades holandesas e que tantos atritos tem provocado entre o governo holandês e os dos seus países vizinhos. Por outro lado, os clubes já possuem entidade legal em Espanha, existindo associações deste tipo inscritas no registo de associações de várias comunidades autónomas, ao menos num caso como consequência de uma sentença judicial que tornou possível a sua inscrição. Deste modo, dar-se-ia segurança jurídica a entidades que se esforcem por operar dentro da legalidade, podia-se oferecer uma alternativa segura frente ao mercado ilegal e permitir-se-ia que muitas delas criassem postos de trabalho. Em definitivo, o modelo de clubes de consumidores/as permite, sem necessidade de alterações legais, dar um passo importante na direcção da normalização, ajudando a colocar em prática o que em minha opinião devería ser o objectivo final das políticas sobre canábis: Assegurar o seu acesso às pessoas que a necessitem ou desejem, através de regulamentações e intervenções dirigidas a maximizar os benefícios e reduzir ao mínimo possível os riscos e danos associados à utilização de dita planta.
traduzido por Tommy_Joao




 Creative Commons Attribution
Creative Commons Attribution